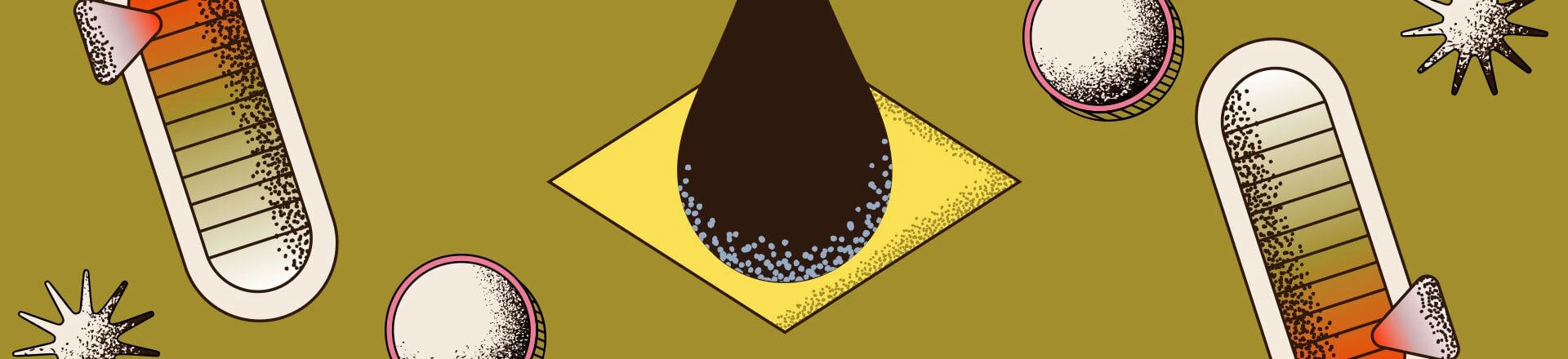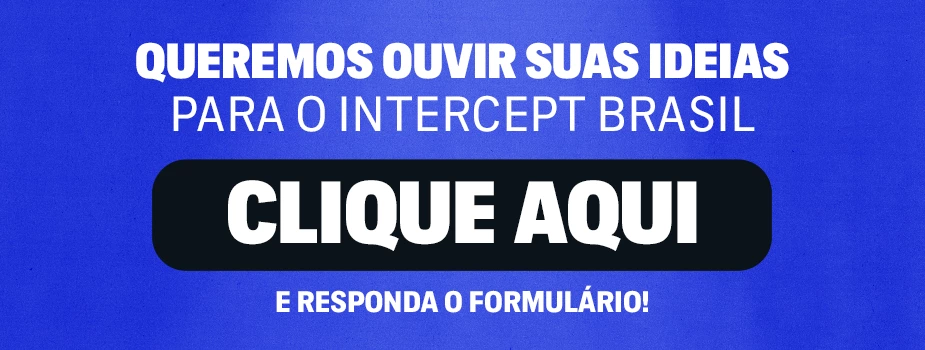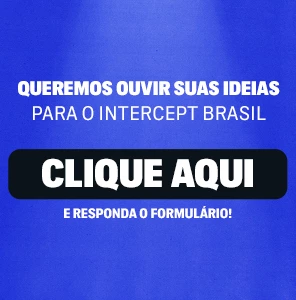O Brasil está prestes a sediar a COP30, o maior e mais relevante evento multilateral de negociação sobre mudança climática. As expectativas são altas, por várias razões: as últimas edições da COP pecaram por contextos restritos e até autoritários, dificultando a participação efetiva e livre da sociedade civil; há muito tempo a COP não é sediada na América Latina, já que a edição prevista para o Chile foi transferida de última hora para a Espanha em 2019; o governo brasileiro tem buscado posicionar o Brasil como líder em ação climática justa, regionalmente e globalmente; a Amazônia aparece como um pano de fundo central que integra demandas ecológicas diversas e a busca por justiça e reparação em território alvo de violações.
Desde o retorno efetivo do Brasil ao palco de negociações climáticas, marcado pela eleição de Lula em 2022, há um esforço do governo brasileiro em ancorar políticas diversas no contexto do clima, desde a bioeconomia à transição energética. Essa movimentação é acompanhada, porém, de bastante ambiguidade e contradição.
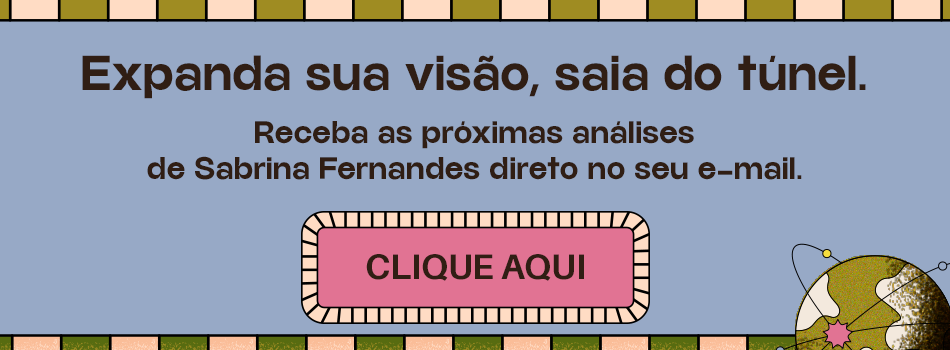
O Brasil deve reparação climática — mas também precisa cobrar dos ricos
O Brasil é um país periférico, cuja situação econômica emergente, escala geográfica e passado colonial nos colocam na posição de demandar justiça climática e maior igualdade de condições para fazer a transição, quando nos comparamos aos países mais ricos. Porém, nossos fatores históricos ambientais e produtivos indicam que estamos entre os dez países que mais contribuíram para o aquecimento global e, portanto, também devemos reparação aos países que emitiram muito menos que nós.
Os países ricos e desenvolvidos, sobretudo na América do Norte e na Europa, devem auxiliar o restante do mundo em sua transição com apoio financeiro, tecnológico e político, já que contribuíram mais e há mais tempo com emissões de efeito estufa e desenvolveram capacidades diferenciadas a partir de suas atividades emissoras. Mas o Brasil, mesmo fora dessa lista de países ricos, não pode alegar que não tem uma conta climática a pagar — em casa e fora também.
Não somos um grande vilão climático que cresceu e se desenvolveu a partir da queima desproporcional de combustíveis fósseis, explorando outros países e seus recursos de forma predatória; ou seja, nos beneficiando de trocas ecologicamente e economicamente desiguais, como explicamos na economia ecológica. Mas nossas emissões cumulativas de dióxido de carbono, quando incluem fontes fósseis, industriais e de mudança no uso da terra e desmatamento, indicam que ultrapassamos nossa “cota” de emissões há muito tempo. Como o aquecimento global não é uma entidade política que distribuiria danos apenas para os grandes vilões, amenizando para países como o Brasil e a Indonésia, cujas emissões de desmatamento refletem seu próprio subdesenvolvimento e legado colonial, temos responsabilidade para com o mundo e para com nosso próprio povo em promover justiça climática como estratégia de transição ecológica e produtiva, e também solidária e internacionalista.
Interdependência é um fato concreto: fertilizantes brasileiros poluem o Caribe
Trata-se do reconhecimento da interdependência metabólica planetária. Indiretamente, as ondas de calor na Europa também surgem por emissões do desmatamento brasileiro, assim como as enchentes no Rio Grande do Sul fazem parte do contexto de impacto da exploração de combustíveis fósseis nas areias betuminosas canadenses. Diretamente, a situação é ainda mais clara. Os fertilizantes usados pelo agronegócio brasileiro — que desmata, queima, e agride povos indígenas — contaminam nossas águas territoriais, mas também o oceano, assim contribuindo para a trágica epidemia de sargaço que polui as pequenas ilhas do Caribe, cujas emissões históricas são minúsculas.
A perspectiva da soberania ecológica e popular pode ajudar a equilibrar nossas demandas internas com nossa responsabilidade planetária. Ela implica em fazer política de transição que reduza emissões e outros impactos negativos socioambientais ao mesmo tempo. Para isso, a COP30 é um espaço importante, mas limitado. Exigimos políticas de adaptação global e parâmetros de justiça climática, mas a tarefa também é doméstica, demandando transformação de políticas nacionais e uma verdadeira reestruturação econômica.
Isso significa, por exemplo, reduzir emissões da agropecuária via reforma agrária agroecológica — não mais incentivos bilionários para a elite do agronegócio. Temos que garantir que a exploração de minérios no Brasil tenha teto e uso vinculado a mais sustentabilidade, como sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) atrelados à implementação de energia renovável comunitária, e não apenas contratos de exportação vantajosos. Trata-se de coordenar nossas ações, garantindo benefícios em casa e em solidariedade global, para que soluções parciais (e falsas) apresentadas pelo mercado não gerem mais dano ecológico e social.
Para isso, precisamos de programas transversais de transição e colocar, urgentemente, as nossas contas em dia.
Jogando com os números e com o futuro do clima
Uma pesquisa de 2024 indica que 73% dos brasileiros se preocupam com os impactos das mudanças climáticas. Não basta o colapso localizado no Rio Grande do Sul no ano passado, brasileiros estão cada vez mais expostos a dias de calor extremo, enchentes, secas e todos os problemas decorrentes dos eventos climáticos extremos, como na produção de alimentos, enfermidades, pressão hídrica e até mesmo risco de insegurança energética. Enquanto se argumenta que a Petrobras deve explorar o petróleo até a última gota, pois o controle, produção e comercialização de combustíveis fósseis contribuem para a independência energética brasileira, nossas usinas hidrelétricas — tão exaltadas por garantir que a matriz elétrica nacional já seja majoritariamente descarbonizada — já correm risco de menor produção em períodos de seca extrema, como foi o caso das usinas de Jirau e Santo Antônio, que chegaram a operar com cerca de 14-20% de sua capacidade durante a última seca extrema do Rio Madeira.
Ao mesmo tempo, a adição de mais fontes de gás fóssil na nossa rede elétrica e a expansão da exploração de petróleo parecem não incomodar aqueles que insistem que isso em nada atrapalha a rota de transição energética do país. No primeiro caso, o gás fóssil é controversamente apresentado como um combustível estratégico de transição, por ter potencial menos danoso ao clima relativo ao carvão, por exemplo. Porém, sua expansão é definidora do que a Coalizão Energia Limpa tem chamado de “regressão energética”, marcada inclusive pelo jabuti do gás fóssil na privatização da Eletrobrás. No segundo caso, esconde-se que as operações e estoque atuais de petróleo já garantem ao Brasil um caminho de independência de importações e autossuficiência para facilitar argumentos de expansão acelerada.
Petrobras expande petróleo enquanto hidrelétricas secam
Segundo os pesquisadores Carlos Eduardo F. Young e Helder Queiroz Pinto Junior, essa estratégia de extração de petróleo é hoje guiada pelo objetivo de maximização de renda através de exportações; ou seja, petróleo não como garantidor da segurança energética brasileira, mas principalmente como commodity. Em todo caso, a importância da commodity no crescimento da economia brasileira, seja para abastecimento interno ou para o mercado exterior, cumpre papel central.
Porém, um estudo estratégico do Observatório do Clima já apontou que o PIB brasileiro poderia continuar crescendo se nos agarrássemos realmente a um cenário de transição energética, diferente do atual, onde o crescimento em renováveis é acompanhado por mais investimento, subsídios e renúncias fiscais ao setor de combustíveis fósseis. Como o desafio da transição verdadeira e justa implica transformar todo o modelo econômico nacional e mundial — e não apenas reduzir o estoque de carbono na atmosfera — sabemos que políticas positivas no âmbito climático, como a redução de emissões decorrentes de desmatamento, têm seu potencial diminuído pela coexistência dos mesmos negócios de sempre. É uma forma de gattopardismo fóssil, como chamado por Breno Bringel, onde mudamos as coisas apenas na medida em que queremos que elas permaneçam como estão.
LEIA TAMBÉM:
- Agro fez campanha de guerra para manipular a opinião pública às vésperas da COP30
- Solidariedade é essencial mas a crise climática exige ações enérgicas do estado
- Para salvar Gaza e o planeta, precisamos mudar o petróleo e o agro
- Para combater as queimadas, Brasil precisa se libertar do agro
Brasil lidera clima e expande petróleo ao mesmo tempo
O fato é que fomos empoderados por uma perigosa contabilidade criativa, que embora respeite as bases científicas da mudança do clima, convenientemente joga com os números e metodologias de emissões. Com essa manobra, podemos ser líderes da ação climática e focar na redução de emissões na Amazônia, frequentemente esquecendo de outros biomas, como o Cerrado, cuja destruição é compensada com créditos de carbono duvidosos do mercado voluntário. Enquanto isso, buscamos explorar mais petróleo, porque as emissões consequentes não ameaçam os compromissos de redução nacional, já que só serão contabilizadas nos países compradores de nossa commodity.
A lógica sofre um nacionalismo de emissões perigoso, que nega a interdependência planetária ao se preocupar apenas com métricas isoladas, e ignora dados da Agência Internacional de Energia (IEA) que apontam não somente que é possível que o mundo inteiro execute uma transição energética de sucesso sem precisar expandir as operações de combustíveis fósseis hoje, mas também como isso é imperativo. No “orçamento de carbono global”, já não cabe a expansão do petróleo, apenas sua transição gradual e diferenciada a partir das capacidades dos diversos países que devem diminuir sua dependência dos combustíveis fósseis, alinhando-se entre credores e devedores da dívida histórica de emissões globais.
Isso significa: o atual momento de expansão de petróleo e gás é incompatível com qualquer alegação séria de transição energética. É infundado o argumento de que a expansão do pré-sal financia essa suposta transição, visto quão maior ainda é nosso investimento público nos combustíveis emissores e que falta dispositivo que vincule adequadamente lucros e royalties a novos investimentos em renováveis e também ao planejamento da desativação gradual e justa de nossas operações de óleo e gás. Falta mais ainda a responsabilização do setor agropecuário, pois não basta reduzir as emissões de desmatamento, é preciso transformar nosso setor agrário radicalmente para diminuir o rebanho bovino responsável pelas emissões de metano e degradação de solo via pastagem. Nem a promessa de uma suposta “pecuária regenerativa”, abraçada pelo agronegócio e até mesmo por organizações ambientais que olham apenas para os gases de efeito estufa e não para o impacto devastador para seres humanos e animais da lógica monótona alimentar imposta pelo agro, é suficiente.
Então, mesmo considerando avanços recentes, fica claro que caminhamos abaixo do prometido em transição energética e mais ainda na integração e coordenação de todas as transições setoriais necessárias para combater as mudanças climáticas e a crise ecológica geral. Isso significa também promover a transição agroalimentar, transição na mobilidade e transporte, e reorganizar nosso consumo energético para cumprir objetivos de desenvolvimento sem ultrapassar os vários limites planetários. Do ponto de vista das transições justas, é sobre determinar como implementar parques eólicos sem adoecer a população local e prejudicar seu modo de vida, mas também sobre designar o destino da energia gerada para atividades necessárias e não, por exemplo, para datacenters das Big Tech que ameaçam nossa soberania digital.
Contexto insuficiente e desigual de recursos globais
Admitir nossa dura realidade em que emitimos muito historicamente, mas seguimos bastante dependentes economicamente de setores de altas emissões, com ganhos em qualidade de vida e acesso a bens e serviços essenciais ainda abaixo do padrão, pode ser estratégico para reimaginarmos a economia brasileira. Falta para muitos a compreensão de que política climática é política econômica e que tudo que investimos em modos produtivos destruidores da natureza pode voltar contra nós mesmos em prejuízos materiais, incluindo mortes e crises sociais intensas.
A competição entre ação climática justa e o crescimento econômico só existe porque nossa economia está orientada em moldes ultrapassados, onde danos ambientais são externalidades, e que permite que lucros sigam privados, enquanto se espera que o estado pague a conta das calamidades socioambientais. Não por acaso, até o fundo social do pré-sal se tornou fonte de auxílio para a agricultura prejudicada pelos eventos climáticos extremos, mesmo quando sabemos que o agronegócio segue impulsionando as emissões brasileiras através de queimadas criminosas, monocultivo dependente de fertilizantes, e a exploração de animais em pecuária intensiva, especialmente no caso de bovinos e a emissão de gás metano.
Portanto, na busca por equidade global, devemos reconhecer alguns parâmetros importantes na hora de cobrar o que é devido, assim como estabelecer critérios sobre o que se fazer com os recursos levantados.
Por um lado, os países mais ricos e mais emissores se recusam ou hesitam em contribuir adequadamente para fundos globais de financiamento climático estruturados para auxiliar quem mais precisa. Por outro lado, esse contexto é exacerbado quando países vulneráveis, que por serem credores climáticos quanto ao orçamento de carbono, não recebem reparação histórica, e ainda têm sua autonomia e seu orçamento estrangulado por dívidas externas.
Dívida externa sufoca países pobres — e impede ação climática
É por isso que o tema da justiça da dívida não pode ser escanteado em nossa luta por ação climática. O uso de recursos nacionais para o serviço de juros e dívida externa limita o espaço fiscal de ação de países do Sul Global, muitos cujas dívidas são de herança colonial direta. O desenho de políticas de cancelamento de dívida voltadas a garantir que o orçamento liberado seja aplicado em mitigação e adaptação traria grandes avanços para a autonomia dos países mais pobres, que poderiam melhor gerir sua transição. Não se trata de ameaças de calote, mas de programas que visam a eliminação de condições predadoras e a mudança de foro para os juros e empréstimos para espaços mais democráticos que o Fundo Monetário Internacional. O economista Fadhel Kaboub propõe até mesmo a criação de um clube de países devedores no Sul Global para que possam negociar conjuntamente, de uma posição mais fortalecida, os termos para o fim do seu endividamento crônico.
Mas ainda é preciso lutar por um fundo global baseado em contribuições justas, a partir dos mais responsáveis pela crise e mais equipados a pagar, e que venha de fato a entregar o prometido. A COP29 foi decepcionante. O valor final acordado para um Fundo Climático Global — Nova Meta Quantificada Global de Finanças — foi de apenas $300 bilhões anuais, quando deveria disponibilizar um mínimo de $1.5 trilhões a cada ano para realmente abordar os desafios necessários. Embora tenham acordado também alcançar $1.3 trilhões anuais até 2035, sabemos que o histórico dos fundos globais e multilaterais é marcado por insuficiência e frustrações.
A nova meta substitui a promessa feita em 2010 de mobilizar $100 bilhões anuais nos países mais desenvolvidos para financiamento climático em países menos desenvolvidos, valor não alcançado nenhuma vez em seus primeiros dez anos. Pelo contrário, um dos fundos específicos, Green Climate Fund (GCF), que conta com fontes voluntárias de financiamento estatais e também via setor privado, teve dificuldades para levantar uma média de $10 bilhões nos seus ciclos de recarga, é lento na liberação de recursos para os projetos de mitigação e adaptação nos países menos desenvolvidos, e ainda distribui grande parte do financiamento através de empréstimos. De fato, 75.9% dos fundos do GCF para projetos de energia renovável entre 2015-2024 foram empréstimos. Esse contexto revela não somente os obstáculos políticos para que os países mais desenvolvidos, muitos dos quais estão entre os maiores emissores históricos, cumpram com o dever de contribuir financeiramente para a transição no resto do mundo, mas também como a estrutura dominante do financiamento climático é alicerçado na financeirização e no endividamento alheio.
Existe dinheiro: falta vontade política para taxar ricos e petrolíferas
O desfalque dos fundos globais, até então inferiores às promessas feitas nos espaços multilaterais, não decorre de falta de recursos, mas da falta de vontade e obrigação. Existe dinheiro suficiente para atender à demanda de $1.5 trilhões anuais que finalmente ajudaria a equilibrar as capacidades de transição no mundo. Um relatório recente da Oil Change International (OCI) sugere ser possível mobilizar $6.6 trilhões todos os anos nos países ricos para enfim garantir a desativação gradual dos combustíveis fósseis e cumprir objetivos de desenvolvimento em adaptação em termos justos internacionais. O relatório aponta vários caminhos que envolvem tanto os países do Norte Global, quanto a possibilidade de levantamento de recursos no Sul Global para benefício próprio e também para que países emergentes com alto histórico cumulativo de emissões — como o Brasil — também contribuam para reparações internacionais. São sugestões que indicam a necessidade de resgatar nossos mecanismos financeiros das mãos de bilionários, grandes corporações e especuladores.
Um caminho que construa soberania fiscal em cada país, atrelado a um programa de reparações climáticas e coloniais, paralelamente a instrumentos de arrecadação global, pode finalmente destravar as medidas necessárias para combater às mudanças climáticas e à desigualdade global ao mesmo tempo.
Assumindo o controle de nossas contas para o clima
Diante desse contexto de normalização de dívidas que corroem o orçamento nacional e esquemas de fundos globais insuficientes, é preciso construir um caminho que atenda o financiamento climático nos âmbitos nacional e internacional ao mesmo tempo e que garanta programas de transição justa.
Os cálculos do relatório da OCI sugerem que $1.03 trilhões poderiam ser mobilizados em todo o mundo anualmente simplesmente ao eliminar subsídios e investimento público direto em combustíveis fósseis. Outros $280 bilhões surgiriam se o Norte Global reduzisse seus gastos militares em apenas 20%. Uma iniciativa tributária baseada no princípio de que as empresas que exploram combustíveis fósseis devem pagar pelos danos climáticos consequentes acrescentaria $343 bilhões a partir do Norte Global e $802 bilhões se considerarmos o planeta inteiro.
Imposto sobre super-ricos pode gerar US$ 5,97 trilhões globalmente
A chave de ouro se encontra em um imposto aos super-ricos, uma batalha que o Brasil contemporâneo conhece bem. Nacionalmente, oscilamos entre vitórias e derrotas, já que, após cederem à pressão popular das ruas para isentar o imposto de renda até 5 mil reais e impor alíquota progressiva acima de 50 mil reais por mês, a Câmara dos Deputados fez mais uma de suas manobras para derrubar a tributação de investimentos, fintechs e bets. Como colocado pelo presidente Lula, a Câmara tenta atacar o governo, aumentando suas pressões fiscais e orçamentárias, mas prejudica mais uma vez o povo brasileiro com a perda de cerca de R$35 bilhões nos cofres nacionais em 2026.
Isso também é derrota climática. Apesar de existirem mecanismos específicos como impostos sobre emissões de carbono, a tributação das riquezas também faz parte do arcabouço de arrecadação para o clima. Um estudo de pesquisadores do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made) aponta que, no geral, o imposto sobre riqueza pode cumprir um papel eficaz na descarbonização brasileira, especialmente se combinado a outras políticas, como em pesquisa e inovação. Por isso, além de taxar adequadamente, é preciso fazê-lo de forma coordenada e com critérios claros da transição justa, em casa e internacionalmente.
Durante a presidência brasileira do G20, o governo brasileiro propôs um imposto mínimo global de 2% aos 3.000 indivíduos considerados ultra-ricos, que traria, pelas estimativas do economista francês Gabriel Zucman, até $250 bilhões aos cofres globais. A ideia foi acatada pelo G20, embora sem menção a uma porcentagem específica. Já nos cálculos da OCI, que sugere um imposto de 3.2% a riquezas acima de $1 milhão, crescendo progressivamente em faixas superiores, poderia gerar $3.53 trilhões em arrecadação apenas no Norte Global e $5.97 trilhões globalmente.
Brasil poderia arrecadar US$ 53 bilhões para transição — e ainda pagar sua parte justa
É claro que existem desafios nessas propostas. Um deles é a evasão fiscal, problema já conhecido no Brasil. De fato, calcula-se que deixamos de coletar 8% da nossa arrecadação devida, o que, de acordo com o Tax Justice Network (TJN), coloca o Brasil em posição de soberania fiscal ameaçada. Em seu estudo de soberania fiscal, Franziska Mager mostra que o combate à evasão e um sistema tributário progressivo permitiria que países emissores arrecadassem mais, pagassem sua parte a um fundo climático global, e ainda restaria bastante para investir em sua própria transição.
No caso do Brasil, nosso país contribuiria $3 bilhões para o fundo inicial de $300 bilhões, já que somos grandes emissores, e restariam $53 bilhões para uso doméstico. Mesmo em um fundo mais adequado, de $1.5 trilhões, o Brasil poderia pagar sua parte justa e proporcional de $15 bilhões, restando ainda $41 bilhões.
Como no caso de um imposto global sobre a riqueza o local de tributação dos multimilionários e bilionários também conta, pois muitos se enriqueceram com a exploração em países distintos de suas residências e das sedes oficiais de suas empresas, o TJN propõe, por exemplo, uma tributação unitária ajustada para que cada multinacional fosse tributada em cada jurisdição “sobre a proporção de seus lucros globais equivalente à proporção de sua atividade econômica global localizada nessa jurisdição”. Tal alinhamento fortaleceria o princípio de justiça global e ainda combateria abusos fiscais cometidos por grandes corporações e as ameaças (majoritariamente vazias) de fuga de ultra-ricos através de maior transparência tributária internacional e outras medidas recomendadas pela Comissão Independente para a Reforma do Imposto sobre Corporações Internacionais (ICRICT) para combater a competição tributária entre países.
Em um cenário como o de 2025, impactado pelas medidas tarifárias de Trump e ataques à soberania estatal, é urgente reorganizar caminhos de cooperação tributária. O momento é propício no Brasil. O brasileiro está ciente da conexão entre a desigualdade socioeconômica e a desigualdade de obrigações tributárias no nosso país. Também sabe dos esforços para reorganizar esse debate mundialmente e se prepara para a centralidade do tema de transição durante a COP30.
Precisamos aproveitar o solo fértil e impulsionar a discussão para que inclua necessariamente uma postura de responsabilidade com a transição. É insuficiente cobrar que os países ricos paguem a conta sem alavancar uma política integrada onde nós também consigamos contribuir. Uma outra estrutura tributária deve ser vinculada às metas climáticas para que domesticamente também eliminemos políticas atrasadas, como os subsídios e renúncias fiscais que entregamos às empresas de combustíveis fósseis enquanto dizemos defender o clima. São tarefas que exigem bastante coordenação, mas que, se executadas, podem garantir um caminho que, parece ser soberano, precisa ser ecológico: em controle da nossa economia, com mais igualdade, mais transformação produtiva radical, e mais preparados para enfrentar as crises do nosso tempo.
PRECISAMOS DAS SUAS IDEIAS
O Intercept Brasil precisa da sua ajuda para definir sua estratégia editorial. É muito importante.
Nossa redação não tem patrão nem rabo preso. Somo 100% financiados por quem acredita em jornalismo independente: você.
Por isso sua opinião é fundamental para nós. E sua resposta é como uma doação.
Responda um breve questionário. É uma contribuição acessível a todos e ajuda a definir o futuro do Intercept.
Esta pesquisa leva menos de 3 minutos e vai ajudar a orientar nossas próximas investigações e iniciativas.
Cada resposta conta.
PARTICIPE AGORA