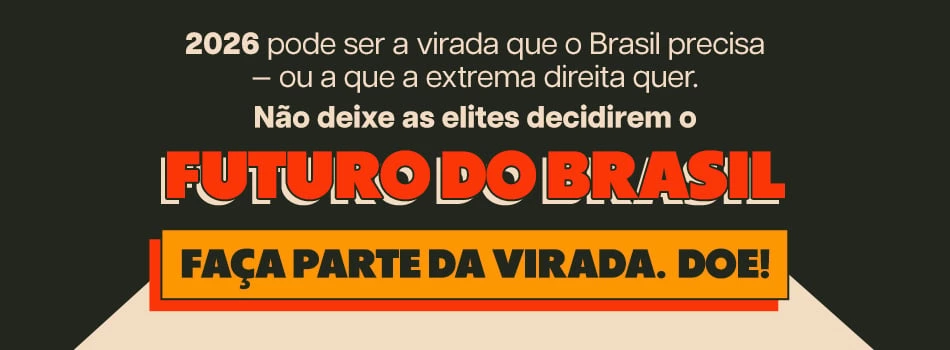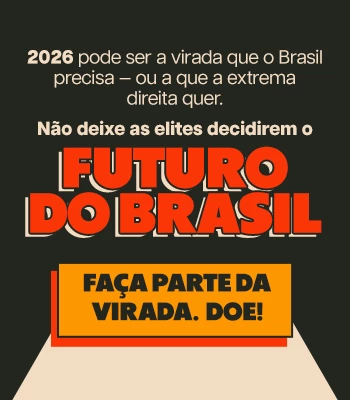O que é soberania para você? Para a Rede Soberania Digital, é “romper a subordinação de nossas políticas públicas aos interesses das big techs e de suas consultorias”. Para o governo brasileiro, é “defender a valorização da vida de cada um dos brasileiros e brasileiras”. Para a faculdade de direito da USP, é “o poder que um povo tem sobre si mesmo”. Já para big techs, como a Amazon, Google, Huawei e Microsoft, a soberania é um negócio. E o Brasil é um ótimo cliente.
Nesta segunda-feira, 20, o mundo acordou com uma pane na AWS, o serviço em nuvem da Amazon. Como resultado, vários serviços – do sistema da United Airlines à brasileira Natura e o jornal O Estado de S. Paulo – ficaram fora do ar. A pane mostrou os riscos da alta dependência de uma nuvem de empresas privadas para infraestrutura crítica – especialmente quando serviços essenciais e sensíveis também dependem dela.
Uma reportagem da Laís Martins que publicamos no Intercept Brasil na semana passada revelou o tamanho desse risco. Ela mostrou que o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, órgão responsável por defender a segurança nacional do Brasil, está prestes a fechar um acordo com a AWS, empresa de hospedagem de dados na nuvem do bilionário Jeff Bezos.
A aproximação com a big tech veio junto com uma decisão do GSI que autorizou a hospedagem de dados classificados em grau de sigilo reservado ou secreto em nuvens de empresas privadas. E garante que isso se encaixa “na agenda de soberania nacional”.
Quem costurou a parceria com o GSI foi um executivo da AWS chamado Sean Roche. Antes de trabalhar na big tech, Roche foi vice-diretor da diretoria de ciência e tecnologia da CIA – a agência de inteligência dos EUA – entre os anos de 2015 a 2019. Um ex-militar que era responsável pela “implementação de tecnologias de ponta para coleta de inteligência” no governo dos EUA, mostrou o site Capital Digital.
Foi o mesmo Sean Roche que veio ao Brasil para discutir “segurança da informação” com o Serpro, a empresa pública brasileira responsável por processamento de dados. Na pauta da conversa? A “nuvem soberana” da AWS.
Nos últimos meses, o governo, o Serpro e a Dataprev, empresas públicas de processamento de dados, têm trabalhado na criação dessa chamada “nuvem soberana”, ou seja, uma estrutura para armazenar dados do governo no território brasileiro e com controle estatal.
Tudo muito soberano, exceto um detalhe: a nuvem de governo é oferecida pela AWS, Google, Huawei e Oracle, que vendem o serviço na medida para atender governos que, paradoxalmente, buscam maior controle sobre seus dados.
Soberania virou palavra para vender: AWS, Google e Microsoft têm as suas “nuvens soberanas” como produto. “Atenda às suas necessidades de soberania hoje mesmo com nosso portfólio abrangente de soluções”, propagandeia o Google. A da AWS é “soberana por design”, diz a empresa. Quer soberania? Compre aqui.
Big techs são agentes dos colonizadores, sugando nossos dados, capturando nossas ideias e influenciando nossos governos para beneficiar seus negócios.
A Caixa Econômica Federal também adotou uma “nuvem soberana” oferecida pelo Serpro. Mas o serviço é hospedado na nuvem da Microsoft (e rendeu nada menos do que R$ 763 milhões de dinheiro público brasileiro direto aos cofres da big tech).
Antes, o Serpro usava seus próprios datacenters para armazenar informações localmente em Brasília e em São Paulo . Desde 2023, no entanto, a empresa passou a firmar parcerias com as big techs para a chamada “nuvem de governo”, que reúne a infraestrutura da estatal com tecnologias de armazenamento combinadas da AWS, Google, Huawei, Oracle e Microsoft.
O presidente do Serpro, Alexandre Amorim, garante que é a solução é compatível com a soberania: “é como termos um ambiente onde toda nossa informação está guardada dentro de um cofre, na verdade de vários cofres, que só eu tenho a chave, só eu sei os segredos que tem lá e só eu consigo acessar”.
Mas muitos pesquisadores, como o sociólogo Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, levantam os riscos de despejar dados em nuvens dessas empresas. E essa preocupação está longe de ser teoria conspiratória: legislações dos EUA obrigam que as empresas do país forneçam dados após pedido da justiça norte-americana, mesmo que eles estejam hospedados em outro país.
Ou seja: em tese, nenhum dado nosso está protegido de Trump se estiver hospedado em um servidor de uma empresa norte-americana, ainda que esse servidor esteja fisicamente no Brasil.
Pense, por exemplo, na situação hipotética de os EUA tentarem interferir no sistema de justiça de outros países. Investigando, por exemplo, um juiz brasileiro. Pense que a justiça norte-americana poderia pedir ao Google ou à Meta informações sobre esse juiz. Sim, essa situação não é tão hipotética. Ela pode acontecer. Assim como autoridades brasileiras foram espionadas, como revelou o caso Snowden mais de dez anos atrás.
Só isso já deveria acender o alerta para a nossa enorme dependência e os riscos de entregarmos tudo para as big techs. Mas não. Em julho, mostrei que, só no último ano, o Brasil gastou nada menos do que R$ 10 bilhões em contratos com empresas como Google, Microsoft e Oracle. Esses contratos são firmados pelo governo federal, por estados e municípios, e vão desde serviços de hospedagem na nuvem a pacotes de escritório, como Office.
“Se um botão for apertado no Vale do Silício, existem políticas públicas que podem ser imediatamente interrompidas. Nossos dados públicos, sistemas e serviços essenciais estão condicionados a contratos de aluguel digital”, me disse na época Ergon Cugler, autor do estudo que embasou a reportagem.
O uso de pacotes de escritório, como o Office, levanta questões de soberania porque não há obrigação de que os dados fiquem armazenados no Brasil. Se os servidores públicos utilizarem o Word, por exemplo, para criar documentos estratégicos, eles ficarão hospedados em nuvens da Microsoft espalhadas pelo mundo – e acessíveis aos EUA, como admitiu um diretor da empresa. Vários países, como a Alemanha, França, Dinamarca e Finlândia, já têm tomado medidas para criar seus próprios softwares e manter dados sensíveis dentro de seus territórios.
Governo brasileiro abre as portas para o Google
Enquanto isso, órgãos do estado brasileiro têm aprofundado relações com as big techs. Em 2024, o israelense Doron Avni, chefe de relações governamentais e políticas públicas para mercados emergentes do Google, esteve no Brasil e fez um tour por entidades de governo. Esteve com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, para discutir possíveis parcerias e regulação de inteligência artificial.

Na mesma viagem, firmou um acordo com a Enap, a Escola Nacional de Administração Pública – responsável por qualificar servidores públicos no Brasil – para formar nada menos do que 38 mil funcionários públicos em tecnologias e IA, tudo com “certificação de carreira do Google”.
Uma verdadeira fábrica de servidores públicos transformados em consumidores prontos para usar as tecnologias que a empresa quer vender. A presidenta da Enap, Betânia Lemos, comemorou no post do LinkedIn do executivo: “essa parceria é um grande passo na direção do desenvolvimento da capacidade de estado do Brasil”.
Muitos pesquisadores apontam que, no atual estágio do capitalismo, a economia se organiza ao redor dos dados – que são “o novo petróleo”. Se nas décadas de 1990 e 2000 as maiores empresas globais e valor de mercado eram do ramo petroleiro e farmacêuticas, em 2019, cinco eram big techs: Amazon, Google, Microsoft, Meta e Apple. Todas elas dos EUA, com uma concentração de poder econômico e político sem precedentes nas mãos daquele país.
Essa lógica criou o que se chama de colonialismo de dados, uma lógica em que nós, os países do Sul Global, temos os nossos dados (que incluem não apenas o conteúdo que postamos, mas também nossa atenção e comportamentos em basicamente todas as esferas da vida) transformados em lucro para esse pequeno e poderoso grupo de empresas dos EUA.
Essa colonização moderna não opera só na extração dos nossos recursos naturais, intelectuais e culturais, mas também na imposição de modos de pensar e ver o mundo – exatamente como acontece em outros processos coloniais. Assim, as big techs são agentes dos colonizadores, sugando nossos dados, capturando nossas ideias e influenciando nossos governos para tornar o ambiente mais favorável possível para seus negócios.
LEIA TAMBÉM:
- Enquanto defende soberania e critica big techs, Brasil torrou R$ 10 bilhões em um ano com Google, Microsoft e Oracle
- Dados secretos do Brasil podem cair nas mãos da AWS, nuvem da Amazon
- Toda vez que alguém duvidar do mal causado pelas big techs, mostre esse dossiê
Duas entrevistas recentes que fizemos aqui no Intercept mostram bem como funciona essa lógica. Em entrevista à nossa editora Alice de Souza, a pesquisadora argentina economista Cecília Rikap mostrou, por exemplo, como a big techs criam problemas e depois vendem as soluções – e todo mundo compra.
“Os governos da América Latina, mesmo os progressistas, estão cegos pelo imperativo do crescimento. Os governos querem soberania, o que, no caso das tecnologias digitais, são contraditórias, porque as tecnologias mais avançadas são dessas empresas”, diz Rikap.
A jornalista Karen Hao, autora de “Empire of AI” (“Império da IA”, ainda sem edição brasileira), explica que as grandes empresas de tecnologia se aproveitam da insegurança que muitos países sentem de ficar para trás na próxima era da revolução, e acabam ditando a cartilha da regulação e inovação à sua maneira. “Ao seguir a liderança deles, os países estão apenas caindo na armadilha”, me disse Hao.
Não podemos negar que o governo Lula tem levantado a bandeira da soberania digital. Mas a Rede pela Soberania Digital, movimento lançado neste ano, aponta que o esforço está prejudicado pela fragmentação do tema dentro do Governo Federal, falta de articulação com a sociedade civil e as mentiras contadas pelas big techs, que “se dizem comprometidas com a soberania, mas na prática sabotam qualquer avanço real”.
Em seu discurso na ONU em setembro deste ano, o presidente Lula enfatizou a necessidade de regulação de big techs e defendeu a soberania. Foi muito aplaudido. Mas seu governo segue comprando a ideia de soberania vendida na prateleira das big techs.
A VIRADA COMEÇA AGORA!
Você sabia que quase todo o orçamento do Intercept Brasil vem do apoio dos nossos leitores?
No entanto, menos de 1% de vocês contribuem. E isso é um problema.
A situação é a seguinte, precisamos arrecadar R$ 400.000 até o ano novo para manter nosso trabalho: expor a verdade e desafiar os poderosos.
Podemos contar com o seu apoio hoje?
(Sua doação será processada pela Doare, que nos ajuda a garantir uma experiência segura)