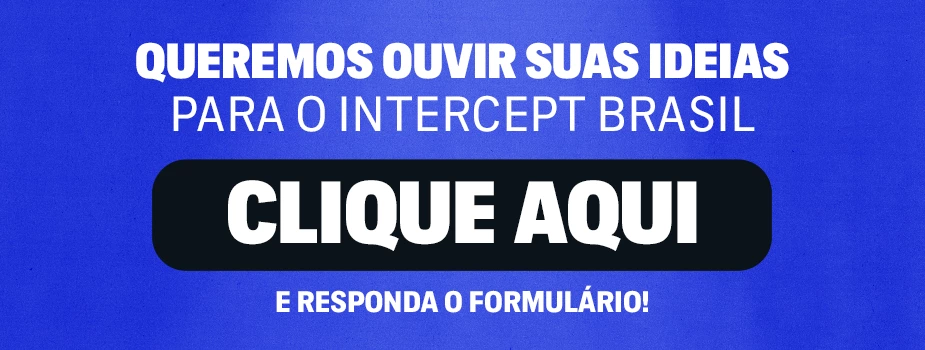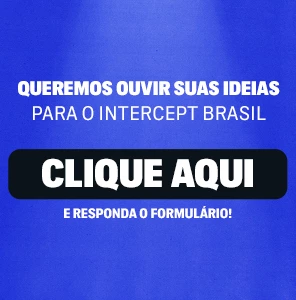Mil desligamentos em um só gesto. Foi isso que o Itaú fez em setembro de 2025: cortou trabalhadores em home office sob a justificativa de “baixa produtividade”. O critério não foram metas batidas, nem avaliações de desempenho, tampouco relatórios de gestores. Foi o número de cliques no computador, o tempo com a tela ativa, a quantidade de janelas abertas. A régua algorítmica decidiu quem merecia continuar e quem deveria ser descartado.
O detalhe mais cruel é que ninguém foi avisado durante os meses de monitoramento. Não houve feedback, relatório intermediário, advertência. Os trabalhadores foram acompanhados em silêncio, sem saber que cada pausa estava sendo registrada como prova contra eles.
A empresa montou um tribunal secreto em que acusação, juiz e sentença eram entregues por softwares de monitoramento. Quando o e-mail de desligamento chegou, não havia espaço para defesa: apenas o veredito da máquina.
Esse método revela muito mais sobre a lógica do capital financeiro do que sobre os trabalhadores. Não se trata de medir produtividade real, mas de instaurar um regime de disciplina total. A mensagem é clara: qualquer um pode estar sob suspeita, a qualquer momento, sem saber como ou por quê. O medo passa a organizar a rotina.
A gestão não precisa mais de broncas ou chefes gritando. Basta a sombra constante do algoritmo. O efeito é o mesmo da velha vigilância fabril, mas com aparência de neutralidade técnica.
A neutralidade, porém, é uma farsa. O que é “produtividade” quando reduzida a cliques? O trabalho bancário envolve análise, interpretação, contato com clientes, reuniões, tempo de leitura, decisões que não deixam rastros imediatos no teclado.
Reduzir tudo isso à movimentação de mouse é apagar a essência intelectual do trabalho, transformando concentração em ociosidade, pensamento em suspeita. A régua digital não mede qualidade nem resultados; mede apenas sinais superficiais de atividade.
O que o banco chamou de “baixa produtividade” foi, na prática, um modo de impor obediência. Quem não coube na métrica invisível foi descartado. É assim que uma instituição que lucrou R$ 22,6 bilhões apenas no primeiro semestre de 2025 decidiu reorganizar sua força de trabalho.
Não por necessidade, não por crise, mas por escolha: reafirmar que, no mundo dos algoritmos, o que importa não é o que se produz, mas o quanto se permanece visível à máquina. Pausa virou crime. Silêncio virou prova.
O algoritmo como capataz invisível
O Itaú não inovou ao vigiar seus trabalhadores. A novidade foi a forma. Se antes o gerente circulava entre mesas e cobrava resultados com olhares e broncas, agora o papel do capataz foi delegado ao software.
É um capataz invisível, sem voz e sem rosto, mas ainda mais eficaz: está sempre presente, não se cansa, não esquece, não tolera distrações. A disciplina do trabalho passou a ser garantida não pela autoridade de um chefe humano, mas pela neutralidade aparente da máquina.
Esse deslocamento não é trivial. O controle feito por um gerente sempre trazia margem de contestação. Era possível argumentar, justificar, explicar circunstâncias. Mesmo sob relações hierárquicas rígidas, havia a possibilidade do imprevisto humano.
O algoritmo, ao contrário, não dialoga: apenas classifica. E, ao classificar, cria uma verdade estatística que se sobrepõe à experiência concreta. Se o relatório diz que houve quatro horas de inatividade, pouco importa se nesse tempo o trabalhador estava em reunião ou resolvendo problemas offline. O número substitui a narrativa.
A empresa se beneficia exatamente dessa aura de objetividade. Não foi “o Itaú” quem demitiu, mas “os critérios técnicos”, “os padrões de produtividade”, “as métricas de aderência”. O discurso corporativo se esconde atrás da máquina, como se o software fosse uma entidade imparcial.
O algoritmo vira uma espécie de tribunal automático que legitima decisões previamente desejadas. O resultado é a desumanização completa da relação de trabalho que já era alienada: o trabalhador não é avaliado por sua contribuição, mas por seu alinhamento às variáveis pré-definidas pelo sistema.
Esse processo também redefine o que significa trabalhar. O que não pode ser convertido em dado desaparece. O tempo de estudo, de reflexão, de espera por demandas, a elaboração lenta de uma estratégia ou relatório — tudo isso se torna invisível.
A digitalização não foi usada para aliviar o peso do trabalho, mas para enxugar quadros, reduzir custos e elevar margens de lucro.
O que existe é apenas a atividade capturada pela máquina: cliques, movimentações de mouse, registros em sistemas. A experiência viva do trabalho é reduzida a ruídos quantificáveis. É como se a própria inteligência humana fosse desvalorizada diante da inteligência artificial, e como se pensar fosse um luxo improdutivo.
Nesse sentido, o algoritmo não apenas vigia: ele educa pela ameaça. Obriga os trabalhadores a se moldarem à lógica da máquina, a produzirem sinais constantes de atividade, mesmo quando isso não corresponde a resultados reais.
É o trabalhador mexendo o mouse sem necessidade para não parecer inativo, abrindo janelas aleatórias para simular movimento, preenchendo sistemas com informações redundantes para que o relatório sorria. O absurdo é que a régua criada para medir eficiência induz comportamentos ineficientes. Mas isso pouco importa para a empresa: o essencial é manter os corpos disciplinados e os números em ordem.
Assim, o algoritmo cumpre a mesma função histórica dos mecanismos de controle do trabalho: extrair mais tempo e energia, eliminar a margem de autonomia e transformar cada segundo em mercadoria. O software não é apenas uma ferramenta; é uma forma de poder. E como todo poder no capitalismo, opera com a aparência de neutralidade, enquanto reforça desigualdades e amplia a exploração.
O contexto histórico da digitalização bancária
As demissões em massa no Itaú não são um raio em céu azul. Elas se inscrevem em um processo que vem de décadas: a digitalização do setor bancário brasileiro. O discurso da inovação sempre esteve presente — do caixa eletrônico ao mobile banking —, mas a cada salto tecnológico o saldo social se repetiu: menos trabalhadores, mais pressão, lucros maiores.
O Itaú sintetiza essa trajetória. Desde 2011, eliminou mais de 18 mil empregos e fechou mais de 2 mil agências. Ao mesmo tempo, quase 100% das operações de pessoas físicas migraram para os canais digitais.
Essa reestruturação se deu em paralelo a uma escalada impressionante de lucros: como já colocamos, só no primeiro semestre de 2025, o banco lucrou R$ 22,6 bilhões, consolidando-se como uma das empresas mais rentáveis do país. A mensagem implícita é clara: quanto mais cresce o resultado, mais dispensável se torna a força de trabalho.
Os números revelam uma contradição escancarada. Nunca os bancos investiram tanto em tecnologia — R$ 34,9 bilhões apenas em 2022 (+18%). Nunca seus lucros foram tão altos. E, ao mesmo tempo, nunca cortaram tantos empregos.
A equação é sistemática: a digitalização não foi usada para aliviar o peso do trabalho, redistribuir tarefas ou melhorar condições; foi usada para enxugar quadros, reduzir custos e elevar margens de rentabilidade.
Essa política não atinge apenas os trabalhadores diretamente demitidos. Os que permanecem enfrentam sobrecarga crescente. Menos colegas significam mais metas individuais, mais funções acumuladas, mais pressão por resultados.
A tecnologia, que poderia libertar do excesso, serve como justificativa para exigir ainda mais: se o aplicativo resolve quase tudo, por que restaria descanso? O que deveria ser ganho coletivo de produtividade se transforma em mecanismo de intensificação.
A digitalização bancária, portanto, não pode ser lida como destino inevitável. Ela é resultado de escolhas muito concretas: investir em tecnologia não para humanizar o atendimento ou democratizar serviços, mas para cortar postos, fragmentar a categoria e reforçar a lógica de exploração. O episódio das mil demissões no Itaú é apenas a ponta mais visível desse iceberg.
Fragmentação e precarização dos trabalhadores
A digitalização bancária quebrou a unidade da categoria. O bancário, que já ocupou posição social de prestígio e estabilidade, foi progressivamente substituído ou deslocado para novas funções menos protegidas, mais precárias e pulverizadas.
Uma parte significativa das atividades migrou para os correspondentes bancários — lotéricas, mercados de bairro, agências dos Correios. Nesses espaços, o cliente pode pagar contas, fazer saques, abrir contas simplificadas. Mas o atendimento é realizado por trabalhadores que recebem salários muito inferiores aos bancários, sem jornada reduzida de seis horas e sem acordos coletivos robustos. O que antes era serviço bancário formal, com proteção trabalhista, foi externalizado para relações de trabalho frágeis.
Outro segmento absorvido pela digitalização foram as fintechs e bancos digitais. Nubank, Inter, C6 e tantas outras se apresentam como símbolos de inovação e modernidade. Mas grande parte de seus empregados não é reconhecida legalmente como bancária, sendo enquadrada em categorias com menos direitos.
Se a máquina produz mais, que o ser humano trabalhe menos; se os lucros aumentam, que a vida melhore.
Salários menores, metas agressivas e baixa sindicalização marcam o cotidiano desses trabalhadores. O discurso de que não são “bancos tradicionais” serve como justificativa para manter um regime de exploração mais intenso.
Esse movimento de fragmentação enfraquece a capacidade de resistência coletiva. Enquanto os bancários de grandes instituições ainda contam com sindicatos fortes, os trabalhadores dispersos em correspondentes e fintechs têm menos mecanismos de defesa.
O resultado é uma segmentação do setor financeiro: de um lado, uma elite técnica em áreas de tecnologia e análise de dados, valorizada e relativamente protegida; de outro, uma massa de trabalhadores precarizados, sem direitos históricos e expostos a pressões ainda maiores.
O impacto subjetivo e a saúde mental
Se a digitalização bancária reorganizou estruturas e eliminou postos de trabalho, seus efeitos mais corrosivos talvez estejam na dimensão invisível: a vida psíquica dos trabalhadores. O controle algorítmico, as metas incessantes e a ameaça permanente de demissão constituem um terreno fértil para o adoecimento.
O home office, que poderia significar autonomia, tornou-se uma cela de vidro. O trabalhador vive a experiência paradoxal de estar em casa, mas sob vigilância contínua. Cada pausa para tomar água ou respirar é registrada como inatividade; cada segundo fora da tela pode ser convertido em sinal de improdutividade.
O espaço doméstico se confunde com o espaço da punição. A fronteira entre vida e trabalho se dissolve, e o lar deixa de ser refúgio para se tornar extensão da máquina de controle.
A lógica das metas digitais também intensifica esse processo. Painéis atualizados em tempo real e mensagens fora do expediente exigem respostas imediatas. A promessa de “flexibilidade” se transforma em jornada estendida, onde o direito à desconexão é corroído. O corpo está fisicamente em casa, mas a mente permanece aprisionada na engrenagem dos relatórios e dashboards.
LEIA TAMBÉM:
- Visita de Lula ao Mercado Livre ignora nova face da exploração dos trabalhadores
- Inteligência artificial promete produtividade e entrega burnout
- Monopólios e poucas regras: como iFood e Uber transformam o Brasil em um laboratório de trabalho
A consequência é uma cultura de medo e isolamento. O algoritmo não grita, mas sua presença silenciosa é ainda mais opressiva: transforma cada minuto em suspeita. O trabalhador aprende a simular atividade para não cair na lista dos improdutivos. Move o mouse sem necessidade, abre planilhas irrelevantes, multiplica registros em sistemas apenas para manter a aparência de movimento.
A produção real se dilui na necessidade de agradar à máquina. O sofrimento, por sua vez, é internalizado: não há gerente para reclamar, não há espaço para diálogo, não há testemunha. Apenas o trabalhador e a tela.
Esse regime subjetivo corrói não apenas a saúde individual, mas também o tecido coletivo. O medo de demissões enfraquece a solidariedade entre colegas, estimula a competição e naturaliza a ideia de que cada um deve provar incessantemente seu valor.
O resultado é um adoecimento social generalizado, disfarçado pelo vocabulário empresarial de “cultura de alta performance” e “aderência organizacional”.
O futuro em disputa
As demissões no Itaú mostram o rumo de um futuro em que algoritmos decidem destinos sem rosto, sem diálogo, sem apelação. Um futuro em que cada clique se torna prova de obediência e cada pausa, indício de desvio. O trabalho vivo, transformado em número, passa a existir apenas enquanto corresponde às expectativas de uma máquina invisível.
Esse futuro não precisa ser aceito como inevitável. A digitalização pode, sim, ser ferramenta de emancipação: reduzir a jornada, aliviar a carga, ampliar o acesso a serviços financeiros em regiões esquecidas. Mas para que isso aconteça, é preciso romper com a lógica atual, em que a inovação só serve para reforçar a disciplina e aumentar margens de lucro. Se a tecnologia cresce, mas o trabalhador encolhe, não se trata de progresso, mas de regressão com verniz moderno.
O que está em jogo é a disputa pelo sentido da produtividade. Cabe à sociedade disputar esse sentido: exigir transparência e negociar coletivamente os critérios de avaliação, regular o uso de inteligência artificial no trabalho. Mais do que isso, exigir que os ganhos da técnica se convertam em ganhos sociais. Se a máquina produz mais, que o ser humano trabalhe menos; se os lucros aumentam, que a vida melhore.
A alternativa é clara. Ou se coloca limite à ofensiva do capital digital, ou se aceita que a cada avanço técnico corresponda uma nova rodada de precarização. O caso do Itaú mostra que não se trata de acidente, mas de método: vigiar, classificar, descartar. O que hoje é o clique do bancário pode ser, amanhã, o silêncio do professor em sala remota, a pausa do médico diante do prontuário eletrônico, o descanso do motorista monitorado por GPS. O algoritmo é apenas a forma atual de uma engrenagem mais ampla de exploração.
O futuro não está escrito. Está sendo disputado agora, entre a promessa de uma tecnologia a serviço da vida e a realidade de uma tecnologia a serviço do lucro.
O gesto das mil demissões é um aviso: se não houver resistência, cada avanço digital será pago com medo, fragmentação e exclusão. Mas é também um convite. Porque resistir a esse modelo é lembrar que máquinas não decidem por si mesmas: são programadas. E que o que está em jogo, em última instância, não são os cliques, mas a vida humana que eles tentam reduzir a estatística.
PRECISAMOS DAS SUAS IDEIAS
O Intercept Brasil precisa da sua ajuda para definir sua estratégia editorial. É muito importante.
Nossa redação não tem patrão nem rabo preso. Somo 100% financiados por quem acredita em jornalismo independente: você.
Por isso sua opinião é fundamental para nós. E sua resposta é como uma doação.
Responda um breve questionário. É uma contribuição acessível a todos e ajuda a definir o futuro do Intercept.
Esta pesquisa leva menos de 3 minutos e vai ajudar a orientar nossas próximas investigações e iniciativas.
Cada resposta conta.
PARTICIPE AGORA