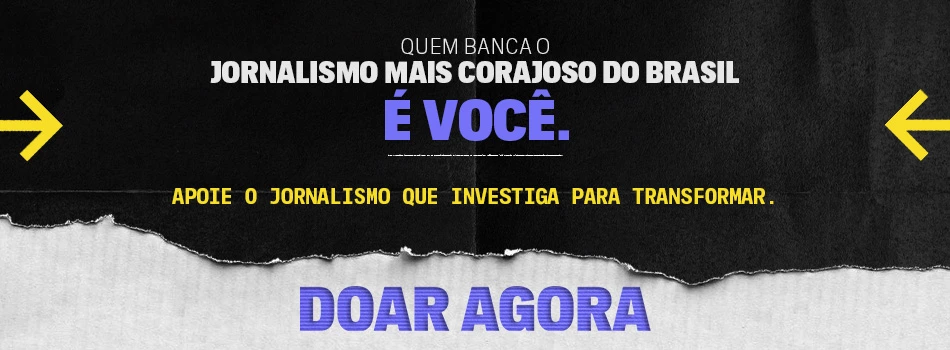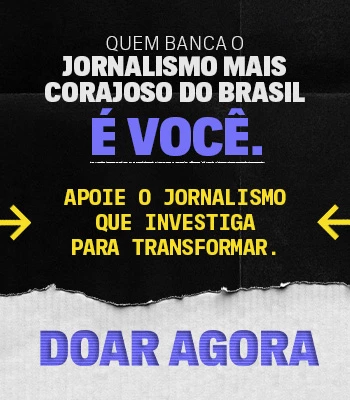Fazia alguns dias que eu tinha saído da Palestina quando Israel matou Anas al-Sharif e outros três jornalistas da Al-Jazeera em Gaza. O ataque deliberado à tenda de imprensa montada em frente ao Hospital al-Shifa matou, junto a al-Sharif, Mohammed Noufal, Ibrahim Zaher e Mohammed Qreiqeh.
Não é exagero dizer que a reação (ou falta dela) da imprensa ocidental e dos governos de países cúmplices do genocídio ao assassinato dos jornalistas pavimentou o caminho para que o mundo viu, ao vivo, nesta segunda-feira, dia 25 de agosto.
De novo, mais seis profissionais de imprensa foram assassinados por Israel no sul de Gaza. Um bombardeio duplo ao Hospital Nasser matou imediatamente quatro jornalistas: Mariam Abu Daqqa, do Independent e Associated Press, Mohammad Salama, da Al-Jazeera, Moaz Abu Taha, da NBC News e Hussam Al-Masri, da Reuters –, além de Ahmed Abu Aziz, do Middle East Eye e outros, que não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
No total, foram 21 pessoas assassinadas, incluindo profissionais de saúde que tentavam resgatar feridos após o primeiro míssil atingir o centro médico. Em outro ataque no sul de Gaza, em Israel matou ainda na segunda-feira Douhan, jornalista colaborador do Al-Hayat al-Jadida, veículo de imprensa oficial da Autoridade Palestina.
O número de colegas assassinados em Gaza desde outubro de 2023 já passa dos 270, enquanto a cobertura majoritária da imprensa e a “comunidade internacional” insistem em ignorar o caráter sistemático dos ataques aos profissionais da imprensa.
Mais do que isso, insistem em ignorar que o morticínio em Gaza não é um raio em céu azul, mas a consequência tão brutal como esperada do regime de apartheid colonial que Israel impõe à Palestina há 77 anos.
Eu não estava em Gaza, e sim na Cisjordânia – a “outra” Palestina. E o que vi é que a outra Palestina é a mesma: com diferentes gradações, os dispositivos utilizados pelo regime israelense incluem o controle total de fronteiras, a vigilância permanente que restringe o trabalho da imprensa, a intimidação a jornalistas internacionais, a prisão, o espancamento e assassinato de jornalistas palestinos.
Não foi preciso sequer chegar à Palestina para sentir isso na pele. Entrar nos territórios palestinos ocupados pode ser uma missão quase impossível, que depende da sobrevida ao escrutínio da imigração israelense nas fronteiras. Muitos colegas não conseguem sequer entrar, tratados na imigração como criminosos e inclusive sendo banidos para sempre simplesmente por chamarem as coisas pelo seu nome – como um genocídio de genocídio, por exemplo. Isso, é claro, no caso daqueles e daquelas que não decidiram abdicar do jornalismo para agirem como relações públicas do regime israelense.
Quando a imprensa vira relações públicas
Na Cisjordânia, recebi a notícia de que o ativista Awdah Hathaleen, que atuou como consultor e produtor no documentário vencedor do Oscar No other land, havia sido assassinado por um colono israelense. Ele também estava na Cisjordânia, a alguns quilômetros, no vilarejo de Umm Al-Kheir, e não em Gaza.
Em março deste ano, o documentarista Hamdan Ballal, codiretor do documentário, fora espancado por colonos, também na Cisjordânia, para depois ser preso por soldados israelenses.
Ainda na Cisjordânia, no campo de refugiados de Aida, conheci um jornalista alvejado por um soldado israelense nos olhos, enquanto filmava, do topo de uma casa, uma invasão do exército ao território.
E vi dezenas, talvez centenas de vezes, grafites e fotografias de Abu Shreen Akleh pelas ruas. A mundialmente conhecida jornalista palestina foi assassinada por um sniper israelense com um tiro na cabeça em 2022, enquanto cobria uma invasão do exército a Jenin, outro campo de refugiados na Cisjordânia, vestindo um colete de imprensa. A presença de Abu Shreen no muro do apartheid, nos campos de refugiados, nas ruas, casas e restaurantes é uma denúncia permanente de que as violações e assassinatos deliberados de jornalistas não começaram em outubro de 2023 e não se restringem a Gaza.
Quando colegas de profissão sistematicamente viram alvo justamente por exercerem seu papel jornalístico e documentarem o genocídio em curso, o que se espera – não por ingenuidade, mas por respeito aos valores éticos mais básicos da profissão – é que a imprensa reaja. E que reaja à altura, com editoriais, capas de jornais, declarações, pressão internacional, defesa da liberdade de expressão e apoio irrestrito às vítimas.
LEIA TAMBÉM:
- Israel assassinou seis jornalistas da Al Jazeera em Gaza. Temos que acabar com a impunidade
- O projeto de Israel é a destruição de todo seu entorno, diz professor
- Israel: estado genocida
Espera-se também que cumpra seu papel de imprensa e, diante da relevância do “fato” (o crime), apure, investigue e circule informação de qualidade, que sirva ao interesse público. Isso significa, entre outras coisas, responder às perguntas elementares do lide jornalístico (como dizer quem matou os jornalistas ou quem impõe restrições ao trabalho da imprensa, por exemplo).
Significa, também, fornecer contexto ao público: quais foram, afinal, as circunstâncias em que uma violação dessa magnitude ocorreu? Os dados mostram que, em Gaza, têm-se o maior número de jornalistas mortos na cobertura de um conflito, incluindo as duas guerras mundiais, evidenciando que não se trata de um caso isolado.
Cabe à imprensa contar essa história, de óbvio interesse público, jogando luz no assassinato e na violência cotidiana contra jornalistas na Palestina. Investigar o contexto, a história recente, o perfil das vítimas, o padrão das violações, questionar o poder constituído e fazer todas aquelas perguntas que jornalistas sabem (ou deveriam saber) fazer.
O que se viu majoritariamente no Brasil, no entanto, foi o oposto disso. Quando al-Sharif e o time da Al-Jazeera foram assassinados em Gaza no último dia 10 de agosto, não houve apenas demora para reportar. Quando os principais jornais do país resolveram, finalmente, dar visibilidade ao crime, optou-se por dar igual destaque à “justificativa” israelense (como uma espécie de “outro lado”), contrariando qualquer manual elementar de jornalismo.
Unidade do Exército israelense operava com “objetivos de relações públicas” para identificar jornalistas de Gaza que poderiam ser retratados como agentes secretos do Hamas.
Os grandes veículos brasileiros acharam por bem não apenas chamar o crime de “morte de jornalistas” – como se nossos colegas estivessem padecendo, em Gaza e em toda a Palestina, de causas naturais, e não sendo alvejados por exercerem sua profissão –, mas também incluir em suas manchetes e linhas-finas o destaque “Israel acusa jornalista de ligação com o Hamas”.
Sem provas, sem documentação, sem checagem independente, apenas legitimando e destacando a versão israelense, essa parte da imprensa atuou mais uma vez como relações públicas Israel, renunciando ao seu papel mais elementar mesmo para defender seus pares.
Mas é preciso ir além disso. O episódio não ilustra, infelizmente, um erro pontual, mas um padrão. A mesma imprensa que é não apenas cúmplice, mas parte ativa da legitimação do projeto colonial israelense não ignora “somente” as circunstâncias específicas do assassinato de al-Sharif e seus colegas.
Uma denúncia do veículo palestino-israelense +972 apontou, dias depois do assassinato da equipe da Al-Jazeera, que desde outubro de 2023 o exército israelense opera uma unidade especial, a “Célula de Legitimação”.
Sua função específica é coletar informações que possam incriminar jornalistas palestinos para proteger a imagem de Israel na mídia internacional durante a cobertura das violações contra repórteres. A informação foi confirmada por três fontes de inteligência, segundo a reportagem, que repercutiu internacionalmente.
Segundo a investigação, a unidade operava com “objetivos de relações públicas, e não de segurança”, para identificar jornalistas de Gaza que poderiam ser retratados como agentes secretos do Hamas, como parte do esforço para conter a indignação com o assassinato de repórteres por Israel.
Não causa exatamente surpresa, mas deve causar indignação, que a maior parte da imprensa brasileira tenha cumprido exatamente este papel, servindo como linha auxiliar e órgão executivo da “Célula de Legitimação” do apartheid israelense.
O metabolismo do apartheid colonial
Na Cisjordânia, entendi que o apartheid colonial pode parecer uma máquina, mas é mellhor descrito como um corpo vivo, em movimento, que se renova e expande. Um polvo, talvez, com cada tentáculo atuando sob um aspecto da vida, da história, da memória e do futuro dos palestinos.
Há um metabolismo que atua para apagar e a fragmentar a identidade palestina, apropriar e esvaziar símbolos culturais, alterar a vegetação e paisagem nativas, estruturar a estratificação social, hierarquizar direitos, suprimir cotidianamente o acesso ao trabalho, à terra, à moradia, à mobilidade, a circulação nos territórios… e uma longa lista, vastamente documentada.
Vi de perto a ação de “colonos” como milícias armadas protegidas pelo Exército israelense nos territórios ocupados com passe-livre para ameaçar, agredir e, muitas vezes, matar.
Vi a segregação e humilhação diárias de palestinos nos checkpoints; a restrição à circulação nos territórios; a demolição de casas como política de estado; a operação israelense “Iron Wall” que, desde janeiro deste ano, já expulsou mais de 30 mil palestinos dos campos de refugiados ao norte da Cisjordânia; o confisco ou fechamento de meios de subsistência (como terras agricultáveis e lojas nos mercados das cidades antigas); a expansão, apoiada pelo governo, dos assentamentos ilegais.
Vi todo um aparato que, das formas mais escancaradas às mais sutis, torna o apartheid colonial não um conceito abstrato – mas uma realidade cotidiana em toda a Palestina.
Aniquilar as testemunhas, calar vozes independentes, eliminar figuras respeitadas por palestinos e, literalmente, atirar nos mensageiros são funções vitais.
Um exemplo, que, comparado à violência aberta, pode parecer trivial, mas é muito revelador: ao cruzar de Jerusalém Oriental (reconhecida pela ONU e pelo direito internacional como parte dos territórios palestinos, ocupada por Israel desde 1967) para Jerusalém Ocidental (sob jurisdição israelense desde 1948, quando o Estado de Israel foi criado), percebi como os sinais de trânsito ficam apenas alguns segundos abertos, travando o fluxo de carros e a circulação de pessoas – enquanto, no sentido oposto, o tráfego é facilitado com sinais abertos por muito mais tempo.
Fui saber, depois, que essa é mais uma das violações reportadas localmente há anos, mas sobre a qual nunca tinha ouvido falar, mesmo cobrindo e acompanhando o tema de perto. Dos assassinatos aos mínimos detalhes cotidianos, o apartheid colonial é um regime tão dinâmico quanto perverso.
Uma engrenagem que trabalha para o objetivo israelense de conquistar o máximo de território com o mínimo de presença palestina. Para isso, é preciso tornar a vida dos palestinos inviável – seja criando toda sorte de obstáculos, seja eliminando-os fisicamente.
Nesse metabolismo, aniquilar as testemunhas, calar vozes independentes, eliminar figuras respeitadas por palestinos e, literalmente, atirar nos mensageiros são funções vitais. Não uma exceção, mas uma prática estruturada.
É verdade que o genocídio em Gaza é o mais documentado da história, mas é preciso lembrar que isso acontece apesar de Israel e contra Israel – que persegue e assassina os jornalistas palestinos no exercício da cobertura e baniu o acesso de jornalistas internacionais ao enclave em outubro de 2023, ao mesmo tempo em que escala as intimidações e violência contra repórteres nas outras partes do território palestino.
No fim dessa cadeia, está a imprensa ocidental que, majoritariamente, escolhe ignorar essa dinâmica sistêmica. Recorta fatos específicos sem contextualizá-los – e falha mesmo ao cobrir os acontecimentos isolados.
Meu desejo, ainda sob o impacto profundo de tudo que vi e vivi na Palestina, é que o assassinato de nossos colegas possa ser um ponto de virada. Que torne, definitivamente, insustentável e repulsiva qualquer legitimação do genocídio em Gaza, assim como do projeto colonial que lhe dá forma e substância.
Para isso, é fundamental chamar as coisas pelo seu nome, e contar as histórias que são ignoradas.
A “morte” de colegas em Gaza não é um desvio, um descontrole ou um exagero mórbido de Netanyahu. A vigilância, a intimidação e o assassinato de jornalistas são pilares essenciais e práticas de sistemáticas do regime de apartheid colonial implementado por Israel na Palestina, tanto em Gaza como na Cisjordânia. Ignorar essa realidade é proteger a raiz do genocídio e, assim, colaborar ativamente para que ele se aprofunde e se repita.
DOE FAÇA PARTE
Intercept Brasil existe para produzir jornalismo sem rabo preso que você não encontra em nenhum outro lugar.
Enfrentamos as pessoas e empresas mais poderosas do Brasil porque não aceitamos nenhum centavo delas.
Dependemos de nossos leitores para financiar nossas investigações. E, com o seu apoio, expusemos conspirações, fraudes, assassinatos e mentiras.
Neste ano eleitoral, precisamos colocar o maior número possível de repórteres nas ruas para revelar tudo o que os poderosos querem esconder de você.
Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de 300 novos apoiadores mensais até o final do mês para financiar nossos planos editoriais. Podemos contar com seu apoio hoje?