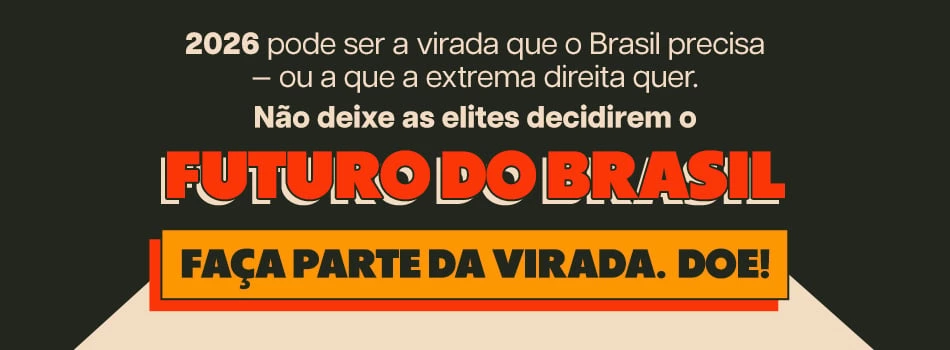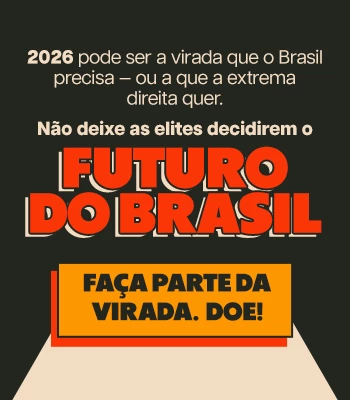A era digital é frequentemente retratada como uma revolução imaterial. O vocabulário dominante — nuvem, inteligência artificial, dados, conectividade — evoca uma esfera de abstrações que pairam acima das estruturas sociais concretas. No entanto, essa representação oculta o fato de que o funcionamento de toda essa arquitetura digital depende de uma base profundamente material: prédios, cabos, servidores, energia, água, e, sobretudo, trabalho.
A “nuvem” é um nome leve para uma infraestrutura pesada, territorializada e extrativista.
Os data centers são o epicentro dessa materialidade invisível. Longe de serem apenas depósitos técnicos de informação, eles constituem zonas logísticas de alta complexidade, voltadas à organização dos fluxos de dados, ao processamento de algoritmos e à sustentação de plataformas que operam globalmente.
São edifícios que articulam diferentes cadeias de valor, conectando trabalhadores precarizados, usuários, sistemas automatizados e redes de distribuição energética. Mas, ao mesmo tempo, permanecem fora da vista e do debate público — blindados física e simbolicamente.
É nesse paradoxo — entre a leveza simbólica da nuvem e o peso concreto de sua sustentação — que se deve localizar o debate sobre os data centers no Brasil e na América Latina. Compreender sua expansão não é apenas uma questão de política tecnológica, mas de análise crítica do capitalismo contemporâneo, que reorganiza sua base territorial, sua divisão internacional do trabalho e seus mecanismos de extração de valor sob formas inéditas, porém reconhecíveis em sua lógica essencial.
Inovação para quem? Data centers e a nova forma de colonialismo
O discurso da inovação tecnológica tornou-se uma das principais estratégias retóricas de legitimação do atual modelo de desenvolvimento capitalista. Sob essa gramática, qualquer empreendimento associado ao digital — da construção de redes 5G à instalação de data centers — é automaticamente celebrado como sinônimo de progresso, modernização e competitividade.
No entanto, esse discurso opera como ideologia, no sentido marxista do termo: oculta as contradições materiais do processo, inverte causa e consequência, e transforma relações sociais determinadas em fatos naturais.
No Brasil, esse fenômeno é particularmente evidente. A instalação de grandes data centers por empresas como Amazon, Google, Microsoft e, mais recentemente, TikTok, tem sido saudada como sinal de “atração de investimentos” e “projeção internacional do país”.
Governos estaduais e o próprio governo federal têm oferecido incentivos fiscais, doações de terrenos e regimes regulatórios flexíveis para acelerar esses projetos. No entanto, raramente se discute quem controla essas infraestruturas, quem lucra com elas e quem arca com seus custos sociais e ambientais.
Como demonstra a coletânea Colonialismo de Dados, a América Latina tem se tornado uma região estratégica para a expansão das infraestruturas digitais justamente por reunir três condições fundamentais: recursos abundantes (como energia e água), estruturas regulatórias frágeis e estados dispostos a subordinar seus marcos legais à lógica das grandes corporações.
Nesse cenário, o que se promove não é soberania digital, mas uma nova forma de dependência estrutural, em que o território opera como base física para a operação de plataformas globais, sem garantir controle sobre os fluxos de dados nem participação nos ganhos econômicos derivados deles.
Trata-se, portanto, de um colonialismo reconfigurado, no qual a extração não se dá mais (apenas) por mercadorias tangíveis, mas por dados, comportamento e infraestrutura. A América Latina volta a ser espaço de extração e sacrifício, agora na forma de campos logísticos, zonas de desregulação e fontes de energia barata, integradas às redes globais de valor digital.
Enquanto isso, o discurso da inovação serve como véu ideológico para impedir que se veja o conteúdo essencial desse processo: a centralização do poder econômico e tecnológico em centros hegemônicos, às custas da subordinação do Sul global.
Essa lógica colonial digital se expressa com particular intensidade no contexto brasileiro. Mais do que simples receptor de tecnologias estrangeiras, o Brasil tem sido ativo na institucionalização de um modelo de inserção subordinada na economia informacional, oferecendo recursos naturais, renúncia fiscal e silêncio regulatório em troca da promessa difusa de desenvolvimento.
Mas a realidade concreta das operações desses empreendimentos revela um outro lado: uma reatualização das estruturas históricas de dependência e assimetria, nas quais o território nacional se torna base física da acumulação transnacional, enquanto o controle sobre os dados, os algoritmos e o valor permanecem concentrados fora de nossas fronteiras.
No Brasil, a instalação de data centers tem sido tratada como uma política de estado, mas sem uma estratégia nacional de soberania digital. O Ministério da Fazenda tem liderado iniciativas para atrair esses empreendimentos com isenções fiscais e desonerações energéticas, como se a presença física das infraestruturas implicasse automaticamente ganhos estruturais para o país.
No entanto, os dados que circulam nesses centros geralmente não permanecem sob controle público ou nacional — são tratados, armazenados e monetizados por empresas transnacionais que operam a partir de marcos jurídicos externos. Assim, o país entra com o território, a água e a eletricidade, mas não detém o valor estratégico da informação.
A situação se agrava nos territórios historicamente vulnerabilizados. No interior do Ceará, por exemplo, o projeto do TikTok para instalar um megadata center em uma cidade com histórico de seca e escassez hídrica acendeu alertas entre organizações sociais e ambientais.
Os custos ambientais — sobretudo o uso intensivo de água para resfriamento — recaem sobre comunidades já precarizadas, enquanto os benefícios diretos são incertos. Trata-se de um padrão recorrente no país: as regiões mais pobres se tornam depósitos da infraestrutura do capital global, sem que isso reverta desigualdades ou fortaleça economias locais.
O discurso tecnocrático que justifica essas iniciativas costuma prometer empregos, modernização e conexão. No entanto, a maior parte dos empregos gerados na operação de data centers é altamente especializada, concentrada em manutenção técnica e segurança. São postos de trabalho escassos, voláteis e frequentemente terceirizados, o que limita o impacto positivo sobre as comunidades do entorno.
Ao mesmo tempo, os custos públicos — doação de terrenos, renúncia fiscal, consumo de recursos naturais — são permanentes e crescentes, gerando um desequilíbrio estrutural entre o que se entrega e o que se recebe.
Além disso, a ausência de uma regulação robusta sobre a localização, operação e função social dos data centers coloca o Brasil em uma posição de risco estratégico. O armazenamento massivo de dados em território nacional não é sinônimo de autonomia se não houver controle sobre os protocolos de acesso, os destinos comerciais desses dados e a arquitetura técnica da sua circulação.
A infraestrutura é nacional, mas o comando é global. E, sem um projeto político que enfrente essa assimetria, o país corre o risco de se consolidar como plataforma logística da acumulação digital estrangeira, perpetuando seu lugar periférico na divisão internacional do valor informacional.
LEIA TAMBÉM:
- Como um grupo de vizinhos venceu o Google e barrou um data center no Chile
- EXCLUSIVO: Data center do TikTok gastará energia equivalente ao consumo de 2,2 milhões de brasileiros, revela estudo interno
- TikTok construirá mega data center em cidade com histórico de seca no Ceará
- Eldorado do Sul abre portas para projeto bilionário de data center que esconde impactos e ignora população
A ecologia sacrificada: data centers, recursos naturais e necropolítica digital
O avanço dos data centers no Brasil revela não apenas uma nova fase da infraestrutura do capital, mas também uma transformação dos ecossistemas em zonas de sacrifício. A metáfora da “nuvem” esconde uma realidade agressivamente terrestre: data centers consomem volumes descomunais de energia e, sobretudo, de água — especialmente em regiões onde esse recurso é escasso e vital para populações locais. Quando o capital digital escolhe instalar essas infraestruturas em áreas como o semiárido nordestino, a lógica da rentabilidade se sobrepõe à lógica da vida.
O caso do megadata center do TikTok no interior do Ceará é emblemático. Enquanto comunidades convivem com racionamentos e insegurança hídrica crônica, a empresa recebe incentivos e acesso privilegiado a esse recurso essencial. Essa decisão revela um padrão de gestão territorial subordinado à lógica da necroexportação digital: os fluxos informacionais são globais, mas os custos ecológicos e sociais são locais, desigualmente distribuídos e concentrados nos corpos e territórios racializados e empobrecidos.
Essa relação entre infraestrutura digital e desigualdade ambiental expõe uma dimensão necropolítica do modelo. Inspirando-se em Achille Mbembe, pode-se afirmar que o poder contemporâneo, longe de prescindir da morte, gerencia quem pode viver e quem deve morrer com base em critérios econômicos e logísticos.
Os data centers, nesse contexto, tornam-se tecnologias de morte lenta: desviam recursos vitais, intensificam conflitos ecológicos e perpetuam formas de invisibilização e abandono, legitimadas sob a narrativa do progresso.
Além disso, há uma clara assimetria na distribuição de riscos e responsabilidades. Enquanto as empresas se beneficiam de isenções, terrenos públicos e infraestrutura subsidiada, os impactos ambientais são socializados, e os mecanismos de compensação — quando existem — são insuficientes, tardios ou simbólicos. A ausência de uma regulação ambiental específica para data centers no Brasil revela o despreparo do estado para lidar com essa nova forma de acumulação que, embora digital em aparência, opera com a mesma lógica de devastação que marcou os ciclos históricos de extração no território brasileiro.
Soberania comprometida: dependência tecnológica e enclaves logísticos no território nacional
A geopolítica da nuvem é profundamente assimétrica. Enquanto países do Norte Global mantêm soberania sobre suas infraestruturas digitais — com políticas rígidas de proteção de dados, incentivo à produção nacional de chips, controle público sobre redes —, países do Sul, como o Brasil, atuam majoritariamente como plataformas logísticas do capital informacional alheio.
Os data centers aqui instalados operam como enclaves territoriais, conectados mais diretamente a redes empresariais globais do que às necessidades da população local. Como nas zonas francas industriais de décadas passadas, há isenção fiscal, territorialidade flexível e baixa exigência de integração ao tecido produtivo nacional.
Essa arquitetura de submissão tecnológica impede a constituição de uma estratégia de soberania digital real. Sem controle sobre os dados que trafegam e são armazenados em seu território, o Brasil corre o risco de reproduzir a condição periférica que o caracterizou ao longo do século 20, agora em sua versão informacional.
Dados brasileiros são processados, cruzados e rentabilizados em outras jurisdições, muitas vezes fora do alcance de leis nacionais, tribunais ou políticas públicas, dificultando qualquer tentativa de autodeterminação tecnológica.
Em vez de promover uma política de dados como bem público — integrando infraestrutura, proteção de privacidade, incentivo à ciência nacional e inclusão digital — o estado brasileiro tem optado por uma estratégia de submissão logística aos fluxos globais do capital digital. O que se apresenta como modernização, na prática é despossessão continuada. A soberania, nessa lógica, não é apenas ameaçada: é deliberadamente sacrificada em nome de uma promessa de progresso que se realiza em outro lugar.
Disputar a nuvem: resistência, regulação e imaginação política
Diante da opacidade técnica e do poder concentrado das grandes corporações digitais, pode parecer difícil — até ingênuo — imaginar formas de resistência. No entanto, a história nos mostra que nenhuma forma de dominação é total: toda infraestrutura carrega dentro de si contradições, brechas e possibilidades de reapropriação.
Os data centers, enquanto pilares logísticos do capitalismo informacional, não estão isentos dessa lógica. Pelo contrário: são hoje um dos pontos mais estratégicos para pensar a crítica e a transformação do modelo digital vigente.
A primeira condição para essa disputa é a visibilização das infraestruturas. É preciso romper com a fantasia da nuvem imaterial e expor publicamente as condições materiais, trabalhistas, energéticas e territoriais que sustentam a operação das plataformas.
Isso implica tratar data centers não como temas técnicos ou restritos à engenharia de dados, mas como problemas políticos centrais — que envolvem soberania, questão ambiental, comunicação e à autodeterminação digital.
A segunda condição é a formulação de políticas públicas que superem a lógica da submissão e avancem em direção a um modelo nacional e regional de governança digital enraizada nas necessidades sociais e não do lucro. Isso inclui: regulação ambiental específica para centros de dados; cláusulas de reciprocidade e transferência tecnológica nos contratos com empresas estrangeiras; estímulo à criação de infraestruturas públicas ou cooperativas de dados; e integração desses centros com sistemas educacionais, científicos e sociais. Não se trata de recusar a tecnologia, mas de subordiná-la ao interesse coletivo, e não ao lucro privado transnacional.
Mas é preciso ir além. A soberania, por si só, não é um horizonte político suficiente. Ela pode ser capturada por projetos conservadores, tecnonacionalistas ou mesmo autoritários. O que lhe confere sentido transformador é sua vinculação a um projeto mais amplo: a superação das relações sociais que tornam possível a exploração digital, a expropriação territorial e a degradação ecológica.
A luta por soberania digital só se torna emancipatória quando articulada à luta por outra forma de vida, capaz de romper com os fundamentos do capital e afirmar novas relações entre humanos, máquinas e natureza.
A VIRADA COMEÇA AGORA!
Você sabia que quase todo o orçamento do Intercept Brasil vem do apoio dos nossos leitores?
No entanto, menos de 1% de vocês contribuem. E isso é um problema.
A situação é a seguinte, precisamos arrecadar R$ 400.000 até o ano novo para manter nosso trabalho: expor a verdade e desafiar os poderosos.
Podemos contar com o seu apoio hoje?
(Sua doação será processada pela Doare, que nos ajuda a garantir uma experiência segura)