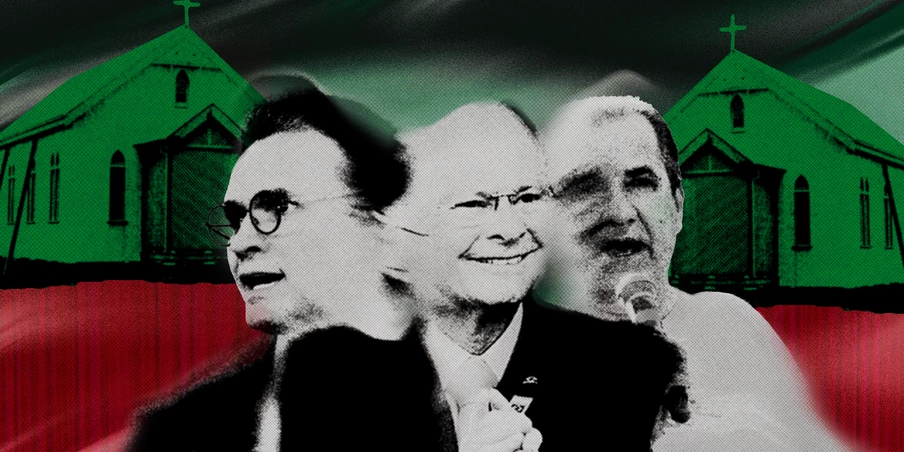TURBINADA PELAS CRÍTICAS recentes e recorrentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a independência do Banco Central do Brasil, ou simplesmente BC, tem dominado o noticiário econômico. Mas, se a lei estabeleceu em 2021 a autonomia em relação ao governo de turno, o mesmo não pode ser dito a respeito do mercado financeiro.
Um grupo de pesquisadores dedicados ao estudo das elites do Brasil contemporâneo investigou a relação da cúpula do BC com o mercado – e a conclusão não é boa.”O que a gente mensurou, avaliando quase 90 diretores que passaram pelo banco entre o governo de José Sarney e o segundo mandato de Dilma Rousseff, foi que, nas áreas diretamente encarregadas da política econômica, os diretores são muito pouco independentes do mercado financeiro”, disse o cientista político Adriano Codato, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais e um dos organizadores de “Os mandarins da economia – Presidentes e diretores do Banco Central do Brasil” (Almedina, 2022).
A obra compila os resultados das pesquisas tocadas ao longo dos últimos anos por Codato e um grupo de colegas. Algumas páginas escrutinaram o BC desde seu surgimento, em 1965. “Como regra geral, esses diretores vêm do mercado financeiro para o governo, e em seguida fazem o caminho contrário. E têm uma formação econômica muito mais ortodoxa do que a dos ocupantes de diretorias com outras funções”, prosseguiu Codato.
Um dos achados da pesquisa é a prevalência absoluta de economistas de viés neoliberal em diretorias que atuam diretamente na definição da política monetária e decidem, na prática, aspectos como a taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano – alvo principal das críticas de Lula. São profissionais saídos de escolas de Economia fundamentalmente ortodoxas, ou mainstream, como as denominam os pesquisadores, principalmente as da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, ou da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio.
“Quando o Banco Central define a taxa básica de juros da economia, ele está também definindo a lucratividade das empresas que compram e vendem dinheiro”, afirmou Codato. “As pessoas que dirigem o BC são formadas a partir de valores específicos que estão muito de acordo com os do mundo financeiro”, completou.
“Os mandarins da economia” é fruto de pesquisas dos cientistas políticos e organizadores Codato e Mateus de Albuquerque, que assinam alguns dos capítulos do livro, além de Alessandro Tokumoto, Eric Gil Dantas, Marco Cavalieri, Paulo Franz Jr., Pedro Rodrigues Alves e Renato Perissinotto – todos das UFPR. José Carlos Martines Belieiro Junior, da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM; Rodolfo Palazzo Dias, da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC; e Wellington Nunes, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a Unila, também participam das pesquisas e assinam textos reunidos no volume.
Leia os principais trechos da entrevista com Adriano Codato.

Foto: Divulgação.
Intercept – Temos assistido nas últimas semanas, graças às críticas de Lula à taxa básica de juros, a um debate sobre o Banco Central, que no Brasil atual é independente de governos eleitos. Mas ele é também independente do mercado financeiro?
Adriano Codato – Usualmente, se fala em independência do Banco Central para tratar estritamente da autonomia do presidente e dos diretores dele diante do governo eleito. É disso que cuida a lei aprovada em 2021. Graças a ela, Lula governará, em seus primeiros dois anos, tendo o BC comandado por um presidente e por diretores nomeados por Bolsonaro. A gente pode supor que essas pessoas deveriam ser autônomas em relação ao mercado financeiro, que cuidam de regular, mas não é exatamente o que ocorre.
Grosso modo, a gente pode dividir as diretorias do BC em dois grandes blocos: as encarregadas da política econômica e as que cuidam de aspectos administrativos. E o que a gente mensurou, avaliando quase 90 diretores que passaram pelo banco entre o governo de José Sarney e o segundo mandato de Dilma Rousseff, foi o seguinte: nas áreas diretamente encarregadas da política econômica – por exemplo, a definição da taxa de juros –, os diretores são muito pouco independentes do mercado financeiro. Como regra geral, eles vêm do mercado financeiro para o governo, e em seguida fazem o caminho contrário.
Para essa análise, combinamos três variáveis. A primeira é a formação acadêmica, que define a visão sobre economia. Muitos diretores e presidentes do BC se formam em alguns poucos departamentos de Economia do Brasil. Destaco dois: a Fundação Getúlio Vargas e a PUC do Rio de Janeiro. São centros de radiação do pensamento econômico ortodoxo, ou neoliberal. É o que chamamos, no livro, de escolas mainstream, aquelas cujo ensino e pesquisa seguem principalmente os conteúdos e metodologias das principais universidades norte-americanas. Como no Brasil existem muitas escolas de Economia que podem ser ditas pluralistas (que ensinam e pesquisam dentro do mainstream e da heterodoxia), e mesmo escolas completamente heterodoxas, a predominância dos acadêmicos mainstream no BC é uma característica notável, reservando a apenas um determinado perfil as cadeiras mais relevantes da autoridade monetária. Uma pessoa com essa formação ortodoxa tem 11 vezes mais chance de chegar a uma diretoria com poder sobre a política econômica. A segunda variável é a origem profissional, se a pessoa fez carreira no serviço público, no estado, ou no mercado. A terceira, se houve passagem pela porta giratória com o mercado financeiro.
A pesquisa de vocês propõe um índice matemático para medir a autonomia do Banco Central em relação ao mercado. O que ele mostra ao longo dos anos?
Somamos essas três variáveis numa equação para calcular a autonomia individual de cada diretor, com peso dois para a passagem pela porta giratória com o mercado. É um índice matematicamente simplíssimo, mas eficiente. A divisão por quatro foi feita para que a variação do índice fique entre 0 e 1. A partir daí, classificamos os diretores em três níveis: baixa autonomia em relação ao mercado, de 0 até 0,33; média autonomia, de 0,34 a 0,66; e alta autonomia, de 0,67 até 1.


Se a gente faz uma periodização por governos, temos o ponto mais baixo dessa curva no segundo governo de Fernando Henrique. Já no governo Dilma, chegou-se a 0,73, na média de todos os diretores. Então, temos um vale em FHC 2 e um pico em Dilma 1. Falando apenas em presidentes do Banco Central, o menos autônomo em relação ao mercado financeiro foi Armínio Fraga [que comandou o BC durante quase todo o segundo mandato de FHC, entre 1999 e 2003] com índice 0,24. O mais autônomo foi Paulo César Ximenes [presidente do BC por menos de seis meses, em 1993, durante o governo de Itamar Franco], com 0,74, seguido de perto pelo Alexandre Tombini [que comandou o BC ao longo de todo o governo de Dilma Rousseff, entre 2011 e 2016], com 0,72.
A falta de independência em relação ao mercado financeiro é uma discussão importante. Porque, quando o Banco Central define a taxa básica de juros da economia, ele está também definindo a lucratividade das empresas que compram e vendem dinheiro. Ou seja, o que o BC decide afeta diretamente o interesse dessas empresas. Isso não é uma questão de corrupção, mas algo que chamamos, no livro, de uma espécie de captura cultural. As pessoas que dirigem o BC são formadas a partir de valores específicos que estão muito de acordo com os do mundo financeiro.
Há um fenômeno particularmente agudo na relação entre o mercado e a alta burocracia federal: a porta giratória, ou seja, as idas e vindas dos mesmos personagens do mercado para o governo e vice-versa. O que a pesquisa de vocês descobriu a respeito?
A grande maioria dos diretores que estavam em funções que definiam a política monetária saíram pela porta giratória, ou seja, foram do Banco Central para o mercado financeiro. O caminho futuro da carreira – o emprego após a saída do BC – tem impacto direto nas preferências e no comportamento dos diretores. Ninguém vai defender uma política que contrarie os interesses dos futuros empregadores. Assim, a porta giratória funciona como uma forma de promessa para o futuro, criando um compromisso implícito do diretor com as instituições do sistema financeiro. Isso foi bem estabelecido pela literatura internacional na área.
Isso não é uma questão de corrupção, mas algo que chamamos, no livro, de uma espécie de captura cultural.
A proximidade entre o sistema financeiro e os comandantes do Banco Central pode ser pensada de dois modos. De um lado, precisa ser considerada pela ótica das exigências profissionais demandadas por um Banco Central. É razoável supor que as atribuições da instituição exijam treinamento e conhecimento profissional do mundo das finanças. Mesmo o cargo de presidente do Banco Central, o dirigente máximo da instituição, que poderia ter um caráter mais político do que técnico – inclusive porque, no Brasil, a posição tem status de ministro de Estado –, prevê grande domínio dos papéis e das rotinas do sistema financeiro em geral. Um dado não trivial é a quantidade daqueles que, em algum momento de suas carreiras, serviram no próprio BC como diretores antes das suas indicações a presidente: 48%.
Por outro lado, essa mesma conexão tende a funcionar, também, como a causa primeira da captura intelectual. Um economista que teve muito treino em finanças e atuou, por exemplo, no mercado de derivativos, dificilmente sustentaria que esse mercado oferece perigo para a estabilidade do sistema financeiro ou da economia como um todo. Nessa interpretação, o regulador seria mais leniente não por visar benefícios materiais futuros no setor regulado, mas por sua socialização – educacional e profissional – nesse ramo.
Temos algum exemplo recente de presidentes do BC que saíram do governo para o mercado financeiro?
Em nossa pesquisa sobre isso, que abrange o período entre os governos de Castello Branco e Dilma Rousseff, encontramos apenas seis casos de presidentes do BC que não saíram pela porta giratória. Temos Ernane Galvêas [que comandou o banco de 1968 a 1974 e novamente de 1979 a 1980], Paulo Lira [de 1974 a 1979] e Carlos Langoni [de 1980 a 1983]. No caso dos governos mais recentes, temos Pedro Malan, que veio do Banco Mundial e, quando saiu do BC, foi para ser ministro da Fazenda. E Tombini, que era um insider, um servidor de carreira do próprio banco, e dali foi para o Fundo Monetário Internacional, uma agência paragovernamental, e não para uma consultoria, uma empresa de investimentos ou um banco de varejo.
Por outro lado, tivemos presidentes que saíram diretamente do mercado financeiro para o Banco Central. Por exemplo, o Elmo Camões [de 1988 a 89, no governo José Sarney] saiu do banco francês Société Générale. E Gustavo Loyola, que tem estado tão falante, na segunda passagem pelo comando do BC [de 1995 a 97, sob FHC], veio da MCM Consultores. E, ao sair, ele abriu a Gustavo Loyola Consultoria.
A pesquisa mostra que há pouca diferença no perfil dos ocupantes de altos cargos no Banco Central, mesmo na comparação entre governos aparentemente antagônicos, como os do PSDB e PT de Lula e Dilma. O que temos aí?
A marca do perfil dos dirigentes do Banco Central é justamente o seu padrão inabalável. Independentemente do partido no governo, mesmo governos liberais como Temer e Bolsonaro – que não estão no livro, mas cujos dados já foram apresentados em seminários acadêmicos –, a origem e a formação de cada grupo de diretorias é a mesma. O primeiro governo Dilma foi uma exceção, com o maior nível de autonomia diante do sistema financeiro do período PSDB/PT. Ou seja, havia menos diretores com o perfil de mercado e mais burocratas. Isto se refletiu inclusive publicamente: a gestão de Alexandre Tombini foi marcada por grandes conflitos com os bancos privados.
No livro, há um capítulo sobre uma notável instabilidade na presidência do Banco Central do Brasil. O que ocorre?
Comparamos os tempos de permanência dos ministros da área econômica – Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento, Indústria e Comércio – e dos presidente do Banco Central. A rotatividade dos comandantes do BC é notável e está associada possivelmente a crises inflacionárias. Entre Sarney e Itamar Franco, o baixo tempo de permanência no Banco Central deve ser explicado fundamentalmente pelos escândalos que acometeram os titulares da pasta. É a partir do primeiro mandato de FHC que o tempo de permanência do presidente do BC sobe sistematicamente, voltando a cair apenas durante o segundo governo Dilma, então em plena crise econômica e política. Na ditadura militar, tanto o Banco Central como o Ministério do Desenvolvimento concentram as demissões em função de embates com outros membros do gabinete.
Na democracia, o Banco Central concentra a grande maioria dos casos de saída por escândalos. Foram episódios envolvendo Elmo Camões [no governo Sarney], Ibrahim Eris [Fernando Collor], Gustavo Loyola e Pérsio Arida [primeiro governo de FHC] e Gustavo Franco [segundo mandato de FHC].
Mas a principal razão que motiva as demissões dos presidentes do Banco Central do Brasil nos governos civis – 46% delas – são os conflitos ocorridos no interior das respectivas equipes econômicas. Quase todos eles ocorreram na administração de José Sarney ou Itamar Franco.
Alguns assuntos podem ser mais bem estudados a esse respeito. Um deles é o quanto as demissões repercutem na estabilidade das burocracias ministeriais – isto é, sobre a taxa de permanência das assessorias e do corpo técnico –, e se elas são um elemento perturbador para as estruturas e as rotinas. Outro é saber o quanto ministérios mais politizados – ou seja, mais sujeitos à barganha do presidente com os partidos da base do governo no Legislativo – seriam mais instáveis e o quanto isso comprometeria suas capacidades de formulação e implementação de políticas públicas.
A partir da pesquisa que você conduz há alguns anos sobre a elite estatal brasileira e seus alcance e influência, quão plural você considera o debate público atual sobre o Banco Central e a política monetária?
O debate é pouco plural, porque as fontes são muito homogêneas. Há muitos anos que o tipo de fonte para esse debate são os ex-presidentes ou ex-diretores do Banco Central, além de acadêmicos alinhados com essa visão ortodoxa ou neoliberal de política econômica. Quem participa do debate, é chamado a falar, dá entrevistas para os grandes veículos de comunicação são quase sempre as mesmas pessoas. Se você fizer uma análise de fontes, vai encontrar talvez não mais que 10 pessoas que falam sempre. E essas pessoas têm em comum uma mesma visão de mundo sobre a economia. O jornalismo econômico no Brasil é muito pouco plural.
Quem participa do debate, é chamado a falar, dá entrevistas para os grandes veículos de comunicação são quase sempre as mesmas pessoas.
Acho importante saber qual o lugar de onde as pessoas falam. Eu, que falo a partir da universidade, vou defender interesses, valores, concepções de mundo daqui, tanto quanto defendo a autonomia universitária, mais dinheiro para a pesquisa científica etc. Quem é do mercado financeiro, lida com compra e venda de dinheiro, é rentista ou administrador de grandes fundos de investimento, vai falar a partir desse lugar.
A esse respeito, estamos desenvolvendo uma pesquisa que se intitula “Colunistas de economia como comunidades epistêmicas: uma análise de redes (2019-2021)”. O objeto da pesquisa são os colunistas de economia que atuam nos principais jornais do país, definidos em termos de sua circulação (Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e Valor Econômico), durante o governo de Jair Bolsonaro. O objetivo é analisar as fontes citadas por eles, de modo a traçar uma rede de conexões.
O seu futuro está sendo decidido longe dos palanques.
Enquanto Nikolas, Gayers, Michelles e Damares ensaiam seus discursos, quem realmente move o jogo político atua nas sombras: bilionários, ruralistas e líderes religiosos que usam a fé como moeda de troca para retomar ao poder em 2026.
Essas articulações não ganham manchete na grande mídia. Mas o Intercept está lá, expondo as alianças entre religião, dinheiro e autoritarismo — com coragem, independência e provas.
É por isso que sofremos processos da Universal e ataques da extrema direita.
E é por isso que não podemos parar.
Nosso jornalismo é sustentado por quem acredita que informação é poder.
Se o Intercept não abrir as cortinas, quem irá? É hora de #ApoiarEAgir para frear o avanço da extrema direita.