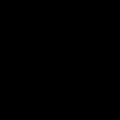Ilustração: Amanda Miranda para o Intercept Brasil
Em novembro, completaram-se 30 anos do dia em que a lavradora Maria Rodrigues dos Santos Gomes matou em legítima defesa o policial militar e pistoleiro Marino Silva. Na época, a zona rural de São Mateus, no Maranhão, passava por uma série de conflitos por terra. O jagunço havia ido à roça onde trabalhava Alonso Silvestre Gomes, marido de Maria, com um objetivo: assassiná-lo. A lavradora interveio para defender a família e acertou com uma estaca e um facão o assassino que havia acabado de atirar em seu marido. Maria não pôde evitar a morte de Alonso, mas garantiu a si e aos dois filhos pequenos que estavam presentes o direito de permanecerem vivos.
Apesar de o inquérito policial ter sido conclusivo a respeito de ela ter agido em legítima defesa, e por isso não haveria crime a ser julgado – conforme o artigo 23, inciso dois do Código Penal Brasileiro –, a denúncia oferecida contra ela pelo Ministério Público Estadual foi de homicídio simples. A previsão de pena era de seis a 20 anos de reclusão. Maria ficou viúva aos 30 anos, com cinco filhos pequenos e prestes a ser julgada por um crime que não cometeu.
Uma intensa campanha por sua absolvição foi promovida ao longo de cinco anos por setores da igreja católica que acompanham as lutas por terra e território no campo. O arcebispo de São Luís à época, dom Paulo Andrade Ponte, e outros onze bispos do Maranhão assinaram e divulgaram uma carta semanas antes do julgamento, defendendo a inocência de Maria e denunciando os “dois pesos e duas medidas” da justiça.
A Comissão Pastoral da Terra no Maranhão, a CPT, a Animação Cristã no Meio Rural, a ACR, e o Movimento de Viúvas Vítimas de Violência no Campo, o MVC, empreenderam uma articulação nacional para reafirmar ao Judiciário e à opinião pública a necessidade de absolvição de Maria e a legitimidade da sua luta, que era, e é, a de milhões de povos originários, tradicionais e quilombolas, que têm na terra sua história, alimento e pertencimento.
No dia do julgamento de Maria Rodrigues, em 27 de setembro de 1995, a cidade de São Mateus parou. Nenhuma repartição pública funcionou. O auditório do Colégio São Francisco, improvisado para receber a sessão, ficou lotado. Cerca de 1.200 pessoas assistiram à audiência.
Relatos da imprensa publicados na época falam de faixas em apoio à Maria espalhadas pela cidade, caravanas de diversos municípios levando sindicalistas, militantes, jornalistas, políticos, membros da igreja católica e estudantes universitários. Foram distribuídos panfletos, adesivos, folders e jornais. Cartas e manifestos em apoio à lavradora chegavam de diversos estados do Brasil e até de outros países. Um jejum e oração coletivos foram iniciados na manhã do julgamento por um grupo de mais de vinte pessoas.
Após cerca de doze horas de julgamento, no começo da madrugada do dia 28 de setembro de 1995, a promotora do caso, Ana Luiza Ferro, pediu a absolvição de Maria Rodrigues por falta de provas cabais. O Tribunal do Júri, composto por cinco mulheres e dois homens, foi unânime em votar também pela absolvição.
Maria Rodrigues dos Santos Gomes foi convidada pela juíza a se levantar para ouvir a sentença. Depois de pronunciada sua absolvição, ela foi aplaudida de pé pelas pessoas que acompanhavam seu julgamento. Houve festa na cidade até o amanhecer daquele dia.
Estive em São Mateus em novembro de 2020 para ouvir Maria e entender como as memórias de três décadas cruzam seu presente. Na época do nosso encontro, ela concorria a uma cadeira da Câmara Municipal de São Mateus pelo PT. Não foi eleita. Em nossa conversa, realizada um dia antes do primeiro turno da disputa eleitoral, ela disse que, se não ganhasse, iria considerar assumir novamente o cargo de delegada sindical pelo assentamento onde vive. O marido era delegado sindical da região quando foi assassinado em 19 de novembro de 1990. Os mandantes do assassinato nunca foram investigados.
Veja, a seguir, a história de Maria. O relato foi editado para melhor compreensão.

Trinta anos após ter o marido assassinado por sua atuação política, Maria Rodrigues se candidatou ao cargo da vereadora da cidade de São Mateus.
Foto: Arquivo pessoal/Maria Rodrigues dos Santos Gomes
“Completei 60 anos no dia 7 de novembro de 2020. Sou natural de Esperantina, no Piauí. Fui morar com meus pais em São Mateus do Maranhão no fim da década de 1960. Eu tinha nove anos. Meus pais eram lavradores e deixaram para trás, no Piauí, a seca. Não tenho boas lembranças de lá.
Conheci Alonso com uns 15 anos. Ele também era trabalhador rural e estava com uns 45 anos quando a gente se casou. Não lembro ao certo da idade dele na época. Fui morar com ele na comunidade Veloso, onde ele já vivia. Passamos 15 anos juntos, tivemos oito filhos. Cinco estavam vivos quando Alonso foi assassinado: um de quinze, um de dez, de sete, seis e dois anos de idade.
Alonso tinha sido eleito delegado sindical da região em 1987 e apoiava a luta de lavradores por terra e território e contra a apropriação privada da terra por latifundiários. Marino Santos era policial militar e pistoleiro de Bacabal, cidade a cerca de 57 quilômetros de São Mateus. Às vésperas do assassinato de Alonso, Marino, se passando por vendedor de redes ambulante, circulava em uma moto pelos povoados de Veloso e Alto Grande perguntando por lideranças da região. Entre essas lideranças estava Alonso.
Na primeira vez em que Marino encostou na minha casa para supostamente oferecer suas redes, eu disse que não queria comprar. Era muito comum a visita de caixeiros viajantes oferecendo produtos na região, mas o Alonso nunca comprava. Mesmo assim, eu sempre oferecia água ou café aos vendedores. Mas para o Marino não senti vontade de oferecer nada. Não me dei com ele desde o primeiro momento. Tinha alguma coisa estranha.
Em uma segunda visita, ele perguntou para uma das minhas filhas mais velhas onde estava “o sogro” dele. Ela respondeu que o pai estava na roça. Já era mais de meio-dia quando o pistoleiro foi embora dizendo que iria à sede de São Mateus. Naquela altura, eu já tinha mandado meus filhos de dez e seis anos levarem o almoço do pai.
Eu observei o trajeto dele na moto e notei que não pegou o caminho para a sede da cidade, mas a direção da roça do Alonso. Senti uma coisa estranha e saí de casa imediatamente, tomei um atalho e corri para tentar chegar antes de Marino onde estava meu marido. Cheguei quase ao mesmo tempo que ele. Vi ele conversando com Alonso, que tinha empilhado algumas estacas de madeira no local e estava dizendo para o pistoleiro que usaria a madeira para cercar a roça. Era época de iniciar o plantio.
Só depois que ele caiu é que percebi que meu marido estava morto. Meus dois filhos pequenos viram tudo.
No meio da conversa, o pistoleiro sacou o revólver calibre 38 e atirou em Alonso. Devido à pouca distância, eles se agarraram. O Alonso caiu por cima da arma, e foi quando eu apanhei uma das estacas da pilha e acertei o pistoleiro na cabeça. Ele ainda conseguiu me chutar muito, mas continuei reagindo. Eu alcancei o facão do Alonso e acertei o pistoleiro no peito. Só depois que ele caiu é que percebi que meu marido estava morto. Meus dois filhos pequenos viram tudo.
Eu sentei na beira do caminho que dava na roça e gritei por socorro. Mesmo sozinha, eu juntei a arma do pistoleiro, o facão do Alonso, coloquei tudo na bacia vazia onde estava o almoço que meu marido tinha acabado de comer e corri de volta para casa em busca de ajuda.
Aquele foi meu último dia de morada na comunidade Veloso. Fui para a sede de São Mateus e, três dias depois, me apresentei à polícia. Não participei da sentinela do Alonso, nem do enterro no cemitério do povoado. Só muitos anos depois é que eu pude ver a preparação do corpo dele para a sentinela e enterro em registros de vídeo feitos por pessoas da igreja católica que passaram a me acompanhar e ajudar depois do que aconteceu.
O Alonso morreu inocente. Ele era delegado sindical da região, e o assassinato dele foi uma vingança pela morte de Bernardo Pereira, uma das pessoas que se dizia proprietária de terras na comunidade Alto Grande, que ficava perto de Veloso. Em junho de 1990, Bernardo foi encontrado morto numa estrada que dava acesso a Alto Grande, e culparam os lavradores.
Alonso não tinha nada a ver com isso. No papel que a polícia encontrou no bolso do pistoleiro, tinha os nomes de Alonso e de outros quatro lavradores que seriam mortos, e os nomes de Plácida Oliveira Costa e Dalila Pereira Alves de Oliveira. Plácida era esposa de Bernardo; Dalila é madrasta de Plácida. Junto com os nomes delas, tinha um telefone, que era de Dalila. A polícia nunca investigou os mandantes do assassinato do Alonso.
Eu não aceitava o trabalho dele, porque ouvia falar que as pessoas morriam na luta e eu não queria que meu marido morresse.
Eu fiquei sem cabeça até para criar meus filhos, que eram todos pequenos. Eu botava panela no fogo e lá ela ficava. Eu fiquei tipo dopada, sem planos, sem nada, fiquei no fundo do poço. Graças a Deus, os padres nesse tempo eram muito comprometidos com o pessoal, não largavam o lavrador. Eram de segurar a mão mesmo. Eles me compraram uma casa em São Mateus.
Depois, influenciada pelos meus irmãos, que tinham receio que eu continuasse ali por causa da família do pistoleiro, vendi a casa e fui morar em São Luís com meus filhos. Eu criei eles lá. Muita gente me ajudou, conseguiram escola para eles. Eu trabalhava nas cozinhas alheias para ajudar meus filhos.
Quando eles já estavam crescidos, voltei para o interior de São Mateus. Estou morando num assentamento há 12 anos. Eu gosto de mato, de natureza. Nunca quis me esconder, porque não cometi crime nenhum. Também não abandonei nenhum dos meus filhos, criei todos, apesar das dificuldades. Eles foram a herança do Alonso para mim.
Eu era evangélica, não gostava de padre. Meu marido também era evangélico, mas ele sempre participava das coisas dos padres, era orientado por eles e, quando ele morreu, eu fui ver o significado do trabalho dele como delegado sindical. É uma coisa que às vezes você não dá valor, porque não conhece. Eu era aquela menina brava, quebradeira de coco lá do mato, sabia cuidar dos meus filhos e do meu marido.
Eu não aceitava o trabalho dele, porque ouvia falar que as pessoas morriam na luta, e eu não queria que meu marido morresse, como cansei de dizer para ele. Mas eu acredito que meu marido morreu satisfeito, porque ele queria lutar para defender a terra em que a gente morava, para defender os companheiros. Depois que ele morreu, eu fui dar valor. Hoje, eu sou uma mulher que tem uma lição de vida, porque o sofrimento não serve só para você sofrer, mas serve para você aprender. Aquela Maria que ficou, do tempo que meu marido morreu, ela morreu também.”
Apuração feita com apoio do Rainforest Journalism Fund em associação com o Pulitzer Center, da CPT Maranhão e do Acervo da ACR – Animação de Cristãos no Meio Rural.
Sem anúncios. Sem patrões. Com você.
Reportagens como a que você acabou de ler só existem porque temos liberdade para ir até onde a verdade nos levar.
É isso que diferencia o Intercept Brasil de outras redações: aqui, os anúncios não têm vez, não aceitamos dinheiro de políticos nem de empresas privadas, e não restringimos nossas notícias a quem pode pagar.
Acreditamos que o jornalismo de verdade é livre para fiscalizar os poderosos e defender o interesse público. E quem nos dá essa liberdade são pessoas comuns, como você.
Nossos apoiadores contribuem, em média, com R$ 35 por mês, pois sabem que o Intercept revela segredos que a grande mídia prefere ignorar. Essa é a fórmula para um jornalismo que muda leis, reverte decisões judiciais absurdas e impacta o mundo real.
A arma dos poderosos é a mentira. A nossa arma é a investigação.
Podemos contar com o seu apoio para manter de pé o jornalismo em que você acredita?