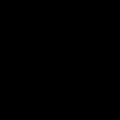Serge Katembera é doutorando em Sociologia pela UFPB e pesquisa ativismo digital na democratização da África francófona.
Foto: Arquivo Pessoal/Serge Katembera
De onde você é? Essa é a pergunta mais frequente que me fazem desde que cheguei ao Brasil em 2008. Da minha parte, a resposta a essa pergunta sempre foi negociada. Sou de vários lugares ao mesmo tempo, minha identidade é fragmentada e híbrida, embora não esteja marcada na minha pele.
Sou filho de um casal congolês que migrou para a França nos anos 1980 com sua filha pequena. Logo tiveram outros três filhos, todos nascidos na cidade de Bordeaux. Meus pais são originários do Kivu, província do leste do Congo, antigo Zaire e Congo Belga. Meu pai nasceu em Nyangezi, no Kivu do Sul; e minha mãe nasceu na ilha de Idjwi, no Kivu do Norte. A etnia do meu pai é Shi e da minha mãe é Havu. Sou capaz de fazer esse exercício genealógico até a geração dos meus avós de ambos os lados e isso me basta para determinar exatamente de onde venho.
Mas, olhando com certo distanciamento, penso que talvez nunca tenha me interessado em ir além dessas duas gerações, porque o acesso que tive da história dos meus ancestrais se deu pela tradição oral. Havia esse conhecimento dos locais de pertencimento, mas a comunicação das histórias dos meus antepassados se deu pela oralidade. E talvez isso tenha limitado meu interesse por conhecer algo anterior aos meus avós.
Meu avô materno, por exemplo, era um político relativamente importante no Congo. Ele tinha também uma espécie de autoridade tradicional na sua região natal. Nunca entendi muito bem esse aspecto da vida dele, que me parecia mais uma mística do que algo concreto. Quando se aposentou, decidiu voltar à ilha de Idjwi para descansar e terminar sua vida ali. Lembro perfeitamente dele se reunir comigo e com meus dois irmãos e escrever nossos nomes em seu testamento, no qual deixava parte de suas terras a cada um dos filhos e netos. Para ele, era importante que nós tivéssemos um vínculo com aquele lugar. Ele desejava que, mais tarde, um de nós construísse uma casa lá. Esse vínculo com a terra pode não significar muita coisa para a maioria das pessoas. Mas, para meu avô, representava nossa identidade também.
Paradoxalmente, minha trajetória de vida – e, sobretudo, minha trajetória intelectual – me vincula menos a essas regiões do que à França e ao Brasil. Muitas vezes, quando me perguntam de onde eu sou, costumo responder de maneira instintiva: “De João Pessoa.” Desenvolvi uma relação de pertencimento com essa cidade ao longo dos 12 anos em que vivo no Brasil. Me sinto mais em casa na Paraíba do que em qualquer outro lugar no mundo.
‘Um documento oficial tem o poder de neutralizar o preconceito que pode ser ativado pela cor da pele, ainda mais em aeroportos.’
Minha identidade sempre foi negociada, no sentido em que eu me acostumei a manipular essa informação de acordo com meus interlocutores, ao grau de intimidade e de confiança que crio com as pessoas. Mas aprendi aqui a fazer essa manipulação da minha identidade, porque foi no Brasil que me senti negro pela primeira vez.
Logo na minha primeira semana aqui, quando precisei ir ao banco para abrir uma conta, amigos africanos mais experientes me instruíram sobre o perigo de usar um boné, uma mochila ou uma bermuda. Aprendi rapidamente que eu seria julgado pela minha aparência e não somente pela cor da minha pele. Pela primeira vez, eu estava num país onde os códigos de vestimenta podem significar vida ou morte.
Em qualquer esfera da vida no Brasil, manipulamos nossa identidade para sobreviver. Ser africano pode apresentar certas vantagens em determinados momentos e lugares, porém existem situações e momentos em que é mais prudente que eu acentue meu pertencimento à França. Ainda hoje utilizo meu caderno de vacinação e minha certidão de nascimento da república francesa, sobretudo quando faço uma viagem internacional. Um documento oficial tem o poder de neutralizar o preconceito que pode ser ativado pela cor da pele, ainda mais em aeroportos e outros lugares similares onde os marcadores raciais e sociais são tão determinantes no tratamento que recebemos. Desde muito cedo, os negros aprendem a usar diferentes estratégias para superar as barreiras que uma sociedade racista coloca no seu percurso, seja na escola, no dia a dia, na universidade ou no mercado de trabalho.
Sob o olhar do outro
A identidade, de modo geral, se constrói na dimensão da alteridade. Os países se definem em comparação com seus vizinhos. Os times de futebol se comparam com seus adversários em campo. Estilos e tradições artísticas demarcam sua individualidade em comparação com outras. É basicamente da mesma maneira que uma pessoa vem a se identificar como negra. Então, primeiro, isso ocorre através do olhar do outro. Segundo, através do lugar que lhe é atribuído em determinada sociedade. Um lugar, muitas vezes, onde a sociedade quer confiná-lo.
Há também outra dimensão da identidade que é tão importante quanto essa e, eu diria, serve como contraponto a essa perspectiva da alteridade: a autoimagem. A definição da sua identidade enquanto sujeito. Dizendo isso de modo vulgar, troca-se a pergunta “de onde você é?” por “quem sou eu?”. Ou melhor, trocando-se de perspectiva, as duas perguntas passam a ter o mesmo significado e almejam a mesma finalidade.
E é nesse ponto específico que a questão dos testes de DNA para determinar a ancestralidade negra dos afro-brasileiros ganha toda a sua importância – não apenas de maneira psicológica, mas política. Muitos questionam o ganho coletivo que esse tipo de iniciativa pode ter para o movimento negro como um todo. Ainda é difícil responder a essa pergunta, mas eu diria que, inicialmente, sua importância opera no nível individual do reconhecimento e que não podemos descartar que, ao longo dos anos, esse reconhecimento seja sentido coletivamente.
Ancestralidade revisitada
Foi principalmente através das minhas trocas com afro-brasileiros e afro-brasileiras que percebi a necessidade dessas pessoas de reencontrarem suas raízes no continente africano. Essa demanda crescia cada vez mais que eu me tornava próximo a elas, pois elas percebiam que eu conhecia minhas origens, que eu podia apontar exatamente a etnia dos meus pais e um lugar geográfico que me vinculasse a uma terra ancestral. Além disso, o fato de eu poder falar línguas africanas como o lingala e o swahili também acentuava essa necessidade deles e delas pela busca de suas origens.
O processo de apagamento das línguas africanas e indígenas no Brasil leva a outro debate complicado para tratar agora – mas, a priori, posso dizer que tem a ver com o projeto colonial, que incluiu a transferência da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro, diferentemente do modelo colonial africano. Na África, sempre fomos vistos pelo nosso potencial como território de extração de recursos minerais.
Evidentemente, também seria um erro tentar fixar a ancestralidade a um território ou a uma localização geográfica, embora esses elementos tenham sua importância. Contudo, é fundamental insistir que ancestralidade e a identidade negra são muito mais fluídas do que fixas. Elas requerem uma abertura de espírito para enxergar as dinâmicas de conservação das nossas culturas e memórias.
Nossa ancestralidade também está, por exemplo, nos terreiros brasileiros, no jazz, na capoeira, no vodu e nas tradições culinárias, musicais e carnavalescas de Nova Orleans. Isso explica também minha grande identificação com a série Treme da televisão americana HBO, que faz esse resgate da cultura musical negra de Nova Orleans. Por outro lado, a busca por uma ancestralidade negra não pode ocultar outra violência histórica que a África sofreu ao longo dos últimos cinco séculos. Me refiro à história de outro apagamento: o das nossas religiões africanas.
Quem conhece minimamente o continente africano hoje sabe que o islã e o cristianismo (em suas diversas variações) são as religiões dominantes, principalmente nas zonas urbanas. Por isso que o conceito de diáspora negra ganha a centralidade nesse debate – daí também a importância desses outros lugares das Américas que citei como espaços de memória e de preservação da nossa ancestralidade.
Dito isso, é preciso apontar de que maneira a crítica aos testes de DNA é formulada. Identifiquei basicamente três argumentos que pretendo discutir rapidamente, mostrando que não constituem motivos suficientes para deslegitimar a necessidade de pessoas negras buscarem pelas próprias origens.
Apagamento da identidade indígena
Certa resistência aos testes de DNA para definir a ancestralidade consiste no argumento de que o teste constituiria uma forma de promover o apagamento da ascendência indígena dos brasileiros. Em primeiro lugar, não me parece que as duas coisas são opostas. Reconhecer as origens africanas não significa negar os laços com a cultura indígena. Do ponto de vista de quem efetua esse passo em busca de sua ancestralidade africana, não enxergo essa vontade de modo premeditado.
Em segundo lugar – e aqui aumenta a dificuldade de compreender essa complexidade –, há uma questão que envolve disponibilidade, distância e proximidade. Explico: muitas vezes olhamos para a África como um mundo distante, embora sempre tenhamos algo que nos remeta a essa relação de proximidade. A África, embora distante, está presente no cotidiano dos brasileiros. Em contrapartida, a cultura indígena, embora próxima geograficamente, sempre nos parece mais distante psicologicamente até em nossa forma de apreender essa realidade. Esse paradoxo cria um movimento de hesitação, me parece, quando se trata de pensar a relação com os povos indígenas. Como nos reaproximar de algo tão disponível, no sentido de sua proximidade geográfica, e tão distante no sentido do apagamento histórico do qual é objeto há séculos?
Por fim, no que se refere ao argumento do apagamento da cultura indígena, precisamos trazer um elemento que é de ordem técnica: os programas que fazem essas pesquisas operam com comparações e cruzamentos dos dados de DNA disponíveis. Isso indica que os resultados estão mudando e evoluindo com o tempo. Portanto, é possível que depois as pessoas precisem fazer mais testes para ver como os resultados evoluem.
No entanto, como já foi dito, o teste de DNA não é a única forma de acessar a essa ancestralidade, nem a ancestralidade pode se limitar apenas à identificação de um território. É preciso entender a necessidade das pessoas que buscam essa conexão com a África, mas também apontar a dimensão fluída da identidade.
Com o crescimento da demanda, muitos críticos também denunciam o caráter Big Brother desses testes de DNA, na medida em que se tornam um mecanismo de privatização das informações biológicas da população negra. Seria, segundo eles, uma maneira de melhorar a individualização da inteligência artificial e sua capacidade preditiva. Cresce com isso um discurso tecno-cético e tecnofóbico que beira, ao meu ver, ao moralismo digital.
‘Qualquer crítica séria não deve passar ou deter-se apenas na responsabilização e culpabilização individual.’
A crítica ao capitalismo de vigilância não pode se tornar uma paranoia nem instaurar um pânico moral na sociedade. Infelizmente, esse parece ser o regime psicológico no qual nos movemos coletivamente. Entretanto, as pessoas que criticam a “servidão voluntária” de quem se dispõe a fazer um teste de DNA para descobrir sua ancestralidade apenas mostram sua própria submissão ao discurso neoliberal da responsabilização individual, da busca de falsos remédios que não passam pela dimensão política. Portanto, culpam o cidadão.
Basta analisar nossas práticas cotidianas para perceber que entregamos nossos dados todos os dias ao efetuarmos compras em plataformas como Amazon ou iFood, ao chamarmos um motorista por aplicativo, ao encomendarmos um remédio num sistema de delivery. Empresas como Google trabalham com o objetivo de predizer e antecipar nossos desejos e até futuras doenças somente de acordo com nossos dados de navegação e histórico de buscas.
Em recente artigo publicado pelo Intercept, descobrimos o sistema Córtex, uma tecnologia de vigilância e rastreamento dos indivíduos que permite ao governo aumentar drasticamente sua capacidade de controle sobre os cidadãos. Em outras palavras, é uma falácia considerar que o teste de DNA seja uma concessão mais grave que outra em termos de acesso aos dados individuais. Em comparação, sua escala e seu alcance são muito menores.
Além disso, centenas de empresas privadas já têm acesso aos nossos dados pessoais, bancos privados possuem nossas digitais sob o pretexto de garantia de segurança ao nosso patrimônio financeiro, empresas de transportes fazem cadastros das nossas digitais para garantir acesso a seus serviços. Com isso, quero dizer que qualquer crítica séria não deve passar ou deter-se apenas na responsabilização e culpabilização individual. É preciso pensar em soluções coletivas.
Por fim, eu diria que as pessoas pesam esses dilemas e mesmo assim optam por fazer o teste porque eles envolvem autoestima, identidade e reconhecimento. Direitos que não podemos subestimar. Pensar o contrário é ser injusto com milhares de pessoas negras que têm reivindicações legítimas quanto à sua origem.
Reconheço a urgência de questionar o regime de vigilância ao qual estamos expostos, porém colocar o teste de DNA no ponto de mira é uma especulação, pois nem sabemos qual será o próximo “ouro/data” que irá orientar a dinâmica da economia digital. Para termos essa informação, precisamos nos voltar para a política. Precisamos reforçar os mecanismos republicanos de transparência na área das novas tecnologias e, eventualmente, inventar outros. É necessário atuar politicamente junto aos órgãos representativos e à sociedade civil para minimizar o alcance das grandes corporações que atuam no setor de big data. Nenhuma dessas duas proposições coloca o peso da luta contra o capitalismo de vigilância sobre os ombros dos indivíduos, porque esse é um problema fundamentalmente político.
O seu futuro está sendo decidido longe dos palanques.
Enquanto Nikolas, Gayers, Michelles e Damares ensaiam seus discursos, quem realmente move o jogo político atua nas sombras: bilionários, ruralistas e líderes religiosos que usam a fé como moeda de troca para retomar ao poder em 2026.
Essas articulações não ganham manchete na grande mídia. Mas o Intercept está lá, expondo as alianças entre religião, dinheiro e autoritarismo — com coragem, independência e provas.
É por isso que sofremos processos da Universal e ataques da extrema direita.
E é por isso que não podemos parar.
Nosso jornalismo é sustentado por quem acredita que informação é poder.
Se o Intercept não abrir as cortinas, quem irá? É hora de #ApoiarEAgir para frear o avanço da extrema direita.