Eu tinha 12 anos quando fiz minha primeira tomografia computadorizada. Estava com muito medo da injeção do contraste, sem imaginar que o exame viraria rotina na minha vida.
Desde então, duas palavras estão comigo diariamente: cavernomas múltiplos. É uma condição possivelmente congênita que causa a formação irregular dos vasos cerebrais, com chance de hemorragias. Meses antes da tomografia, eu já sentia muita dor de cabeça e no ouvido. Fui levada a vários médicos e todos diziam que meu ouvido estava muito inflamado, receitavam antibióticos e nada de melhorar. Até que um deles disse que eu não tinha nada e pediu para conversar a sós com minha mãe.
Esse médico falou que eu reclamava de dores para chamar a atenção, um comportamento típico de criança mimada. Minha mãe ficou pasma. Ela respondeu que não concordava e perguntou se o médico indicava alguma atitude. Ele, então, recomendou uma dentista para ver se não poderia ser ATM, uma disfunção na mandíbula que pode causar dores terríveis.
Fui à dentista recomendada e, mais uma vez, nada. Lembro que ela era muito educada e prestativa, conversou com calma com meus pais e disse que talvez fosse a hora de fazer uma tomografia do crânio. Foi quando descobri que sofria de uma doença rara e sem cura.
‘Eu poderia ficar vegetando’
Desde então minha vida mudou bruscamente. Paro para pensar e vejo que 12 anos, a idade com que eu soube da minha doença rara, é o que minha irmã tem hoje. À época, eu já estava aprendendo nome de doença, de médicos, remédios e prováveis tratamentos. Nesse mesmo ano, fui internada pela primeira vez para tomar morfina, já que nada dava jeito na dor que sentia.
Enquanto isso, meus pais batalhavam para conseguir uma radiocirurgia, tratamento recomendado pelos neurologistas naquele momento. Os médicos falavam que meu caso era bem delicado pela localização do cavernoma. Se escolhêssemos uma cirurgia comum, eu poderia ficar vegetando.
Para fazer esse tratamento em específico, que na época só era feito em algumas cidades brasileiras, fomos para o Rio de Janeiro – eu moro no Ceará. A radiocirurgia estereotáxica é um tipo de radioterapia localizada, ou seja, eu receberia altas doses de radiação em uma determinada região do cérebro.

Papai e eu com a “coroa”: através dela, Anália recebeu doses de radiação no cérebro.
Foto: Acervo pessoal
Era agosto de 1998. Meu tio que morava no Rio foi até a clínica conosco. Para mim, seria só ficar paradinha recebendo as radiações que destruiriam o cavernoma (pelo menos o principal deles, o que mais trazia complicações). Não foi. Chegando lá, o radiologista explicou que teria que colocar uma coroa na minha cabeça, que teria de ser parafusada. Essa coroa ia medir a quantidade de radiação que eu receberia. Se a radiação fosse menor que o desejado, o efeito não seria alcançado. Se fosse maior, o cérebro poderia sofrer danos.
Olhei a coroa, os parafusos, as injeções e me desesperei. Mamãe segurou uma mão, papai a outra, e começaram as injeções de anestesia: duas na testa e duas na nuca. Mamãe desmaiou em seguida, pois ficou tocada demais com o que acontecia. Depois de instalada a coroa, fizeram a radiocirurgia.
Os radiologistas falavam que levaria meses para que os efeitos pudessem ser percebidos em alguma tomografia e na ressonância magnética. Mas a radiocirurgia não funcionou. O cavernoma sequer diminuiu de tamanho.
Foi um ano muito difícil. Como eu perdi muitas aulas, repeti o 6º ano. Havia também as questões estéticas. Engordei entre 15 e 20kg por causa dos remédios que comecei a tomar, mas consegui seguir a vida. Optei pelo tratamento conservador (exames anuais e consultas periódicas) e fui vivendo como dava.
Mas o quão abrangente é o significado de “conseguir seguir a vida?” É um “ficou tudo bem?” Significa que superei todos os perrengues? Nem sempre. A adolescência é uma época em que criamos uma noção do que é ser normal. Se você não pode fazer exercícios, dançar ou correr, instantaneamente os outros te colocam mil apelidos e te excluem do convívio social.
Mas a essa altura eu já não ligava muito. Tinha me dado conta que as informações sobre doenças raras são escassas, e gastava meu tempo procurando novos dados. Acabei me tornando autodidata no assunto. Os cavernomas eram minha única preocupação, na verdade.
‘Sonhava que me operavam e eu morria na sala de cirurgia’
Sete anos depois, em 2005, em uma consulta, o neurologista cismou que seria uma opção viável realizar a radiocirurgia novamente.Lá fomos nós batalhar pelo tratamento. Você já batalhou contra algum plano de saúde para conseguir um exame ou tratamento que ele não custeia? É desgastante demais. Mas conseguimos.
Fomos de novo para o Rio. Mas, durante as análises pré-radiocirurgia, o médico disse: “Se realizarmos novamente, seu cérebro ficará necrosado.” Que raiva. Raiva do médico, que passou um tratamento inadequado. Do radiologista, que poderia ter avisado antes. Fiquei frustrada. Mas aproveitei que estava no Rio e fui em um neurocirurgião conhecido nacionalmente. Ele disse que me operar seria simples e que eu não teria nenhuma sequela. Era uma informação bem diferente da que eu havia recebido anos antes
Deram-me um número de seis dígitos em um papelzinho, como se fosse algo corriqueiro.
Do alto dos meus 19 anos, fiquei totalmente confusa. É muito injusto a vida jogar uma decisão dessas no colo de quem mal tem idade para escolher o que quer ser quando crescer. Fui deixando para lá e não escolhi nada. Pode parecer negligência com a minha própria saúde, se eu estivesse do outro lado da tela talvez pensasse isso, mas eu não me sentia capaz de tomar uma decisão dessas naquele momento. Apenas conseguia pensar que era tudo muito sério e “quem era aquele médico para garantir que eu não ficaria com nenhuma sequela?” Eu deitava e tinha pesadelos com isso. Sonhava que me operavam e eu morria na sala de cirurgia.
Acabei seguindo com o tratamento conservador por mais três anos, até maio de 2010. Foi quando um dia acordei cedinho e resolvi caminhar. Antes de completar meia hora de caminhada, uma moto invadiu a via dos pedestres e fui atropelada. Desmaiei. Quando os sentidos voltaram, só sentia muita dor de cabeça. Fui para o hospital e, depois de alguns exames, viram que tive traumatismo craniano e mais uma hemorragia cerebral.
Novamente a vida seguiu, mas fiquei bem mais frágil depois do acidente. Comecei a regredir: surgiram inúmeras náuseas, dormências no lado direito do corpo e muita dor de cabeça. Então meu médico me disse que não poderia me operar em Teresina, pois meu pior cavernoma ficava em um lugar muito profundo. Precisei ir até São Paulo para me consultar com um novo especialista.
Fui então até esse neurocirurgião, um dos mais conceituados do Brasil. Ele olhou para mim e disse “você só tem duas opções: opera ou opera”. Fiquei nervosa. Quando perguntei sobre valores, fiquei estarrecida. Deram-me um número de seis dígitos em um papelzinho, como se fosse algo corriqueiro.
Voltamos de São Paulo e decidimos acionar o plano de saúde e perguntar o que poderia ser feito por mim. Não aceitaram negociar nada. No máximo, sugeriram que eu operasse com um médico da rede deles em São Paulo. Vejam bem: eu não queria operar em outra cidade só para viajar. Queria era operar com um médico em específico.
Já falei do quão desgastante é a batalha contra um plano de saúde, não é? Imagine você doente e debilitada, com dores de cabeça terríveis, e tendo de discutir com o plano. Não teve jeito, tivemos que acionar um advogado e entrar com uma ação judicial. Poucos dias depois, recebi a notícia de que haviam concedido o pedido.
A craniotomia foi marcada para abril de 2013. A internação foi um dia antes, para exames preliminares. Antes da cirurgia dei um beijo na mamãe e, então, não lembro de mais nada.
Um dia depois acordei na UTI. Mexi o lado esquerdo do corpo e estava tudo bem. Tentei mexer o lado direito e nada. O braço direito não mexia, nem a mão, a perna ou o pé. Nada! Fiquei resignada. Não conseguia chorar, porque era como se não existisse emoção nenhuma. Vieram conversar comigo e explicaram que eram sequelas da cirurgia e que provavelmente meus movimentos voltariam na medida que eu fizesse fisioterapia e terapia ocupacional. Dois dias depois fui liberada, e a fisioterapia começou.
‘Não exijo do meu corpo mais do que ele pode oferecer’
Eram coisas simples, como apertar uma bolinha ou tentar tocar o nariz com a mão direita. Eu ficava muito ofegante com pouco esforço. Eu ainda não conseguia nem sequer andar. Os fisioterapeutas tiveram que me ensinar novamente.
Voltei para Teresina 20 dias após a cirurgia. Ainda me sentia muito frágil e quase não movimentava o lado direito do corpo. Neurofisioterapia é algo muito repetitivo e doloroso, mas extremamente importante. A mesma coisa posso dizer da terapia ocupacional. Fiz ambas por dois anos e meio. Recuperei 80% dos movimentos e hoje posso dizer que sou quase independente.
Conviver com as sequelas não é fácil. No começo, eu não aceitava aquele estado, embora soubesse que era transitório. Eu tinha pesadelos e acordava no meio da noite assustada. Hoje consigo lidar com isso. Sei das minhas limitações, aceito-as e não exijo do meu corpo mais do que ele pode oferecer.
Pintar foi uma etapa muito importante da terapia ocupacional e que me ajudou a recuperar meus movimentos. Nunca mais consegui largar a pintura, que virou uma paixão que carrego até hoje. Comecei timidamente, pintando tudo borrado e sem interesse, fazendo apenas para cumprir com todas as tarefas propostas pela terapeuta. Mas, quando vi, estava encantada e já havia adquirido um novo hobby.
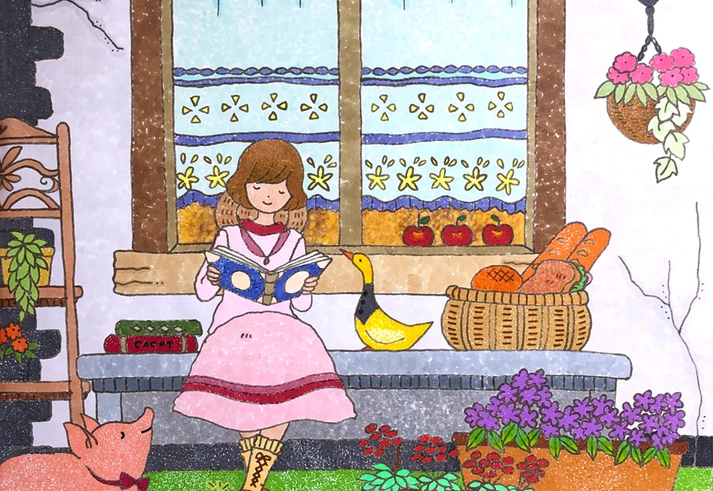

Em 2015, tornei-me voluntária na Aliança Cavernoma Brasil, uma ONG que ajuda pacientes com cavernomas cerebrais do Brasil inteiro. Dois anos depois, palestrei no Senado em um evento de doenças raras. Após nossa participação, conseguimos trazer o exame de sequenciamento genético para o Brasil. Antes realizado apenas na Alemanha e nos EUA, hoje nossa organização a disponibiliza de graça. Neste ano, estamos organizando o Primeiro Simpósio Internacional em Cavernomas Cerebrais, em 12 agosto, no Rio. O objetivo do evento é informar médicos e pacientes sobre novos protocolos da doença.
Infelizmente, quase não há políticas públicas para doenças raras no Brasil. Muitos médicos sequer sabem o que são cavernomas. Isso dificulta bastante a nossa condição. O simpósio que estamos organizando vai ajudar que mais pessoas conheçam a doença e possam ajudar quem sofre dela.
Atualmente, vou tentando levar minha vidinha, apesar de ser muito, muito difícil às vezes. Sinto dores de cabeça diariamente. Não há um dia no qual eu não sinta dor. Sabe quando os amigos às vezes te convidam pra algo e você pensa “hmm, hoje não estou muito afim de ir, vou dizer que estou com dor de cabeça?” A diferença é que a minha dor de cabeça é real e incapacitante, a ponto de gritar de desespero.
Tomo remédios fortíssimos que me deixam muito debilitada. Lidar com os efeitos colaterais desses remédios é desafiador. Já contei que descobri na pintura uma grande paixão, né? Pois ela quem me ajuda a seguir. Geralmente passo o dia no escritório daqui de casa em meio a lápis e canetas. Isso me faz muito feliz.
‘Quem me conhece sabe que sou alto astral’
Hoje, possuo outros oito cavernomas e, no início de junho, tive mais uma hemorragia cerebral e estou em repouso absoluto. Infelizmente, é um quadro que se repete esporadicamente, não sabemos o porquê. Ainda bem que ficou menos assustador com o passar dos anos.
Apesar de ser bem difícil, não deixo que isso me limite. Quem me conhece sabe que sou alto astral, falo de tudo, de nada, de qualquer coisa. O importante é tocar a vida pra frente. Inclusive, às vezes as pessoas me chamam de ‘forte’, ‘guerreira’ – o que eu discordo. Vou me matar? Desistir de viver?
Às vezes não há outro caminho a seguir, a gente segue com o que tem. “Tem que fazer acupuntura”, eu faço. “A acupuntura não tem jeito, você vai ter que tomar opioide”, por mim OK. “O opioide dá um desconforto enorme e você vai suar como uma chaleira e se coçar como se estivesse com alergia”, vamos lá, sem problemas.
Faço o que posso para sobreviver. Não que eu aceite tudo de bom grado e não surte no meio tempo – mas eu tenho escolha? Acredito que tenho uma condição e consigo apenas encará-la de frente. Quando não há opções, fazemos o que se deve fazer, não é?
O seu futuro está sendo decidido longe dos palanques.
Enquanto Nikolas, Gayers, Michelles e Damares ensaiam seus discursos, quem realmente move o jogo político atua nas sombras: bilionários, ruralistas e líderes religiosos que usam a fé como moeda de troca para retomar ao poder em 2026.
Essas articulações não ganham manchete na grande mídia. Mas o Intercept está lá, expondo as alianças entre religião, dinheiro e autoritarismo — com coragem, independência e provas.
É por isso que sofremos processos da Universal e ataques da extrema direita.
E é por isso que não podemos parar.
Nosso jornalismo é sustentado por quem acredita que informação é poder.
Se o Intercept não abrir as cortinas, quem irá? É hora de #ApoiarEAgir para frear o avanço da extrema direita.



















